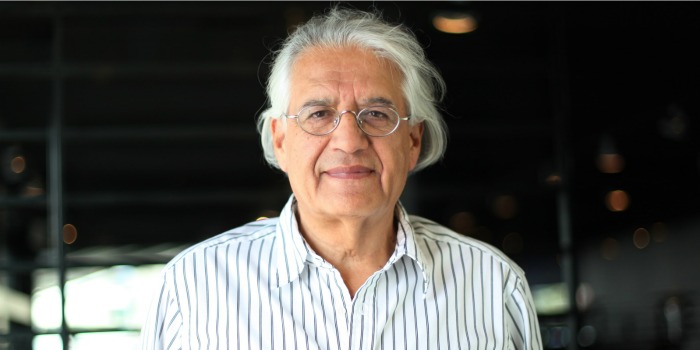Quando se fala de cinema sul-americano logo vem à memória os cinemas brasileiro e argentino como expressão máxima dessa arte. Sem dúvida, são estes dois países que mais produziram e distribuíram filmes pelos circuitos internacionais como manifestação ativa da cultura do continente sul-americano. A realidade de hoje nos impõe outra leitura, na medida em que outras cinematografias se manifestam com o mesmo grau de interesse e expressão artística.
Ainda que o cinema argentino continue a ser o melhor exemplo de um cinema sul-americano capaz de falar uma linguagem estética de reconhecida aceitação valorativa nos circuitos mundiais sem perder as motivações e os traços da vida social e política do país, isto é, que contam histórias locais sabendo ser universais, outros cinemas passaram a perseguir tal veia artística apesar do incentivo à produção ser mais restritivo. Dispensável falar aqui do cinema brasileiro que, a despeito de ter obras de reconhecido valor artístico, enfrenta um problema sério de distribuição e exibição nacionais.
Obviamente, não pretendo aqui discorrer sobre as razões de essas diferentes cinematografias brotarem em qualidade pela América do Sul, apenas reconhecer que há uma profusão de obras de caráter autorais. Merecem aqui serem citados como exemplos os filmes “Pelo Malo” e “Desde Allá”, dos venezuelanos Mariana Rondón e Lorenzo Viga, respectivamente; “As Cores da Montanha”, de Carlos César Arbeláez, “A Terra e a Sombra”, de Cesar Augusto Acevedo, “O Abraço da Serpente”, de Ciro Guerra, e “La Playa”, de Juan Andrés Arango Garcia, como representantes da Colômbia; “Magallanes”, de Salvador del Solar, “Contracorrente”, de Javier Fuentes-León e “A Teta Assustada”, de Claudia Llosa, todos do Peru. Sem deixar de falar no cinema uruguaio de Rodrigo Plá (“A Demora”), Pablo Stoll (“Whisky e 3”), Álvaro Brenchner (“Mr. Kaplan”) e César Charlone (“O Banheiro do Papa” e “Artigas – La Redota”) e sem esquecer o cinema boliviano (“Zona Sul”, de Juan Carlos Valdivia, e “Insurgentes”, do consagrado Jorge Sanjinés).

Andrés Wood é outro baluarte desse ressurgimento, seguindo os passos da nova ressignificação do cinema chileno, mas com um pé na produção televisiva. Sua filmografia reflete parte de sua percepção do momento político que viveu o país, que ele acompanhou com olhares que se aproximam do personagem de seu filme mais famoso, “Machuca” (2004). De certa forma ambígua, esta sua concepção do mundo político está manifestada em seus trabalhos – “Histórias do Futebol” (1997), “O Desquite” (1999), “A Febre do Loco” (2001), “La Buena Vida” (2008) e “Violeta Foi Para o Céu” (2011) -, revelando sua disposição em focar aspectos do dia-a-dia chileno a partir da construção de personagens universais.
A nova geração que surgiu graças às escolas de cinema atraindo jovens para a atividade, prontos para realizarem um cinema que parece desprender-se dos preconceitos do passado, aliada ao apoio progressivo de fundos financeiros do Estado, produziu uma nova cinematografia com temas diversos, mas com marcas profundas da autoria; são filmes pessoais. Integram essa geração Matías Bize (“Na Cama” e “A Vida dos Peixes”), Dominga Sotomayor (“De Jeuves a Domingo”), Cristián Jimenéz (“Bonsái”), Sebastián Lelio (“Navidad” e “Gloria”) e Sebastián Silva (“A Criada”).
Conheço muitos dos filmes citados e posso afirmar que tenho grande simpatia por eles, na crença mesma de que uma nova forma de fazer cinema no Chile esteja se moldando e amalgamando, com capacidade de ganhar expressão no circuito internacional. Aliás, alguns deles já percorreram esse caminho com sucesso. Mas minha referência predileta do cinema chileno ainda perpassa pelo tom político que sempre o marcou. Tenho boas lembranças dos filmes de Miguel Littin que manifestavam a crença revolucionária de mudanças sociais – “La Tierra Prometida” (1973), “Acontecimentos em Marusia” (1976) e “Sandino” (1990) – e que continuam em sua filmografia recente: “Los Náufragos” (1994), “La Última Luna” (2005), “Dawson Ilha 10″ (2009) e “Allende em su Laberinto” (2014).
Mas é a trajetória de Patricio Guzmán que mais me apaixona por sua incrível persistência em registrar os desmandos que acometeram o Chile e implantaram a mais cruel ditadura militar da América do Sul. Hoje, aos 75 anos de idade, mantém-se firme na sua vinculação com o registro organizado de atos dramáticos para a guarda da memória futura. Um dos principais mestres do documentário mundial (só uma vez tentou a ficção, mas sem sucesso), Guzmán é uma espécie de guardião da memória, para quem os acontecimentos passados ganham nova dimensão no presente e se projetam como reflexão no futuro. Para alguém que já afirmou que fazer documentário é como se fosse “um processo artístico, poético, de reconstituição de um acontecimento”, podemos verificar nos seus mais famosos filmes, agrupados na trilogia “A Batalha do Chile”, a sua necessidade de distanciamento para poder realizá-lo. Essa distância significa estar dentro dos acontecimentos, mas sem o compromisso político do militante, de alguém que tem de cumprir um programa, a ele submeter-se. Como frisou em entrevista, “essa é a condição de me sentir livre para criar e ver os fatos com olhares diferentes. Acredito mesmo que o fundamental para fazer um filme político é não ser militante.”
Homenageado na 39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2015, quando recebeu o prêmio Humanidade, Patricio Guzmán – pode-se afirmar – é um mestre em construir relações poéticas e políticas sobre o Chile e em retratar a ditadura de Pinochet. Isto está declarado em seus filmes – desde os primeiros filmes “El Primer Año” e “La Respuesta de Octubre” (1972), na trilogia “A Batalha do Chile” (1976), que ele editou no exílio com a ajuda de outra referência no documentário, o francês Chris Marker, “Em Nombre de Dios” (1987), “Chile, la Memoria Obstinada” (1997), “O Caso Pinochet” (2001), “Salvador Allende” (2004) e culmina com “Nostalgia da Luz” (2010) e “O Botão de Pérola” (2015).

Em seu último filme – “O Botão de Pérola” – ele vai tentar continuar seu discurso poético sobre realidades duras, com uma verdadeira ode à água e ao oceano Pacífico, que banha a costa do Chile, abordando o extermínio dos povos originários do Sul pela sanha dos colonizadores e as vítimas desaparecidas da ditadura. Ele parece dizer com todas as palavras (ou imagens) que o Chile se construiu praticamente de costas para sua própria geografia, para seu próprio povo, não sendo capaz de compreender a verdadeira proposição de seu futuro. Sugere que a própria história do país está dividida literalmente pela ruptura do golpe militar que instaurou a ditadura de Pinochet.
São duas obras cinematográficas documentais magistrais que fogem do estilo tradicional do documentário. E esta é a nossa singela homenagem a um homem que dedicou toda sua vida a tornar o documentário um instrumento essencial da luta social sem ser algo estritamente panfletário, maniqueísta ou cansativo.