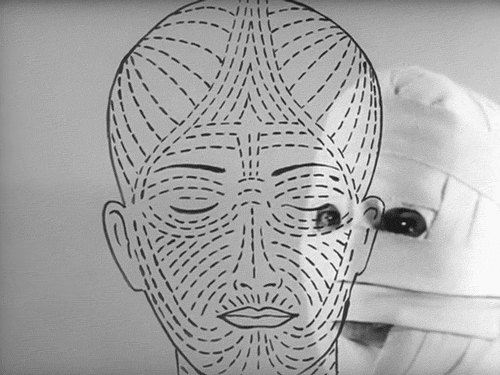O termo Nouvelle Vague geralmente não causa estranhamento para cinéfilos, mesmo aqueles que ainda estão se iniciando na paixão pelo cinema. Nomes como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Claude Chabrol rapidamente surgem como peças obrigatórias do quebra-cabeça que é hoje tentar alargar os horizontes do conhecimento sobre chamada Sétima Arte. Porém, só depois de vários filmes e leituras começamos a nos dar conta de como os movimentos e vanguardas cinematográficas podem até ser ordenadas de maneira sistemática, separadas pelos teóricos umas das outras, mas que não raro elas possuem interseções inusitadas. E é nesse ponto que ocorre o encontro da Nouvelle Vague francesa e o cinema japonês.
A terra do sol nascente também teve o seu equivalente à nova onda do cinema no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, norteada por experimentações no campo visual e na construção da narrativa fílmica. De maneira semelhante aos seus parceiros franceses, mas usufruindo do vários elementos próprios de sua cultura, a Nouvelle Vague Japonesa trouxe trabalhos ousados como os do diretor Nagisa Oshima, Shorei Imamura e Hiroshi Teshigahara, que, via de regra, buscavam figuras normalmente rejeitadas pela sociedade como protagonistas, enfatizavam o sexo como nunca antes no cinema japonês e abordavam temas sociais incômodos. Dentre o trio citado, chama a atenção a maestria de Teshigahara, em especial, na quadrilogia que dirigiu baseada em obras do escritor Kobo Abe.
Para entender melhor o que essa quadrilogia tem de tão especial, precisamos primeiramente delimitar de que filmes estamos falando, certo? Pois bem, as obras são: “Otoshiana” (1962), “A Mulher da Areia” (1964), “A Face do Outro” (1966) e “Moetsukita Chizu” (1968). Todos esses filmes têm como base romances do escritor Kobo Abe (exceto o primeiro, que Abe já concebeu desde o início como roteiro), que também atuou como colaborador de Teshigahara no processo de adaptação das obras literárias para roteiro. E que colaboração! Cada um dos filmes desenvolve uma atmosfera que traz unidade à quadrilogia, esboçando em tramas tão diferentes a falta de sentido da condição humana na contemporaneidade, e que continua tão atual quanto há décadas atrás.
Em “Otoshiana”, por exemplo, temos a história de um trabalhador humilde de minas de carvão (Hisashi Igawa) que é assassinado por uma figura bizarra (Kunie Tanaka) logo no início do filme, tornando-se um fantasma obcecado em descobrir porque foi vítima de um homem que sequer o conhecia. O filme segue a pegada da Nouvelle Vague “original” ao tratar de uma discussão política e social, pois as condições inadequadas de trabalho em minas era tema recorrente nos noticiários da época; porém, ele carrega a particularidade de misturar isso ao corriqueiro tema das narrativas nipônicas de fantasmas, além de já apresentar um criativo domínio da linguagem cinematográfica.
“Otoshiana” é regado de momentos tão tristes como belos, frames que podemos emoldurar para colocar na parede e que, mais que isso, assumem uma função para além da estética, carregando simbolismos que servem diretamente ao andamento da trama. O olhar perdido do filho do protagonista, impotente perante a condição de extrema pobreza e solidão, que o diga. Nesse entremeio, personagens como a dona da mercearia, os sindicalistas da mina e os jornalistas que tentam descobrir o que há por trás da morte do personagem de Igawa ajudam a costurar a teia de absurdos que circunda a morte do trabalhador, tornando sua jornada sobrenatural um doloroso limbo.
Visto em perspectiva, o filme de 1962 parece ter sido um criativo ensaio para o que viria a seguir com “A Mulher da Areia”. Trata-se do filme mais conhecido de Teshigahara, e um dos mais premiados também, e que inclusive chegou a ser o indicado japonês para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na época. O drama novamente é insólito, contando a história de Jumpei (Eiji Okada), um entomologista que busca encontrar e catalogar uma espécie rara de inserto, mas que se vê preso numa grande vala que demarca o ponto mais baixo de uma duna, onde vive uma viúva (Kioko Kishida) cujo nome nunca sabemos. Pouco depois, descobrimos que ele foi colocado ali propositadamente para ajudar a mulher no trabalho de coletar areia em sacas para os outros homens “livres” do vilarejo longínquo. Jumpei tenta a todo custo escapar e voltar para a civilização, enquanto que ela parece negar qualquer tentativa de viver uma vida próxima a outras pessoas.
Como em “Otoshiana”, a sexualidade surge como algo muito além de expressão de desejo carnal em “A Mulher da Areia”. As pulsões apontam muito mais para o dilema de voltar ou não a viver no caótico mundo moderno, envolto em mudanças sociais, guerras e outras transformações que, no fim das contas, os personagens simplesmente não sabem se eles se importam com tudo isso. A psicanálise e o existencialismo são bases essenciais para entender as entrelinhas do filme e as ações dos personagens, apoiados pelo rigor estético que Teshigahara imprime a esse filme. Se em “Otoshiana”, são mais pontuais as experimentações de sobreposições e outras brincadeiras com os planos e a montagem, em “A Mulher da Areia” elas são constantes e cheias de carga de significação. Dessa maneira, as curvas do corpo de Kishida mesclam-se às formas das dunas, ou o mundo de Jumpei vira, literalmente, de cabeça para baixo quando refletido numa gota de água num super close. A escolha pela fotografia em preto-e-branco acentua não só as dobras traçadas pelo vento na areia – sempre presente – mas também o sofrimento e a alienação tão bem representados pelo duo Okada-Kishida.
Seguindo a obra-prima “A Mulher da Areia”, veio um filme deveras diferente: “A Face do Outro”. Tido injustamente como menor, o drama existencialista toma outro gênero cinematográfico de empréstimo (tal como “Otoshiana”), mas dessa vez o escolhido é a ficção científica. Em “A Face do Outro”, acompanhamos o intragável Sr. Okuyama (Tatsuya Nakadai), que sofre um acidente no trabalho e acaba tendo o seu rosto desfigurado por uma substância química. Condenado a viver com a face envolta em bandagens, seu cinismo para com o mundo cresce e abala seu casamento. Ele então topa com um psiquiatra (Mikijiro Hira), que o convence a participar de um experimento no qual Okuyama teria uma máscara perfeita para substituir seu rosto, mas com a aparência de outro homem. Ele aceita a proposta apenas para seduzir sua própria esposa e provar que ela não o amava mais por estar desfigurado, enquanto que reflete uma possível influência do novo rosto sobre sua personalidade.
“A Face do Outro” é um filme sobre paranoia regado novamente por um discurso existencialista, aqui intensificado desde a primeira colaboração com Kobo Abe. As experimentações no campo visual também se tornam mais extremas nesse filme, expressa em detalhes como o design da máscara de bandanas de Okuyama (que mesmo cobrindo o seu rosto inteiro, faz com que ele pareça ter uma expressão irritada) até o visual totalmente estilizado do consultório do psiquiatra que lhe dá um novo rosto, trabalhado com extremos de total penumbra em alguns momentos e, em outros, mostra-se absurdamente branco e amplo, cheio de vidros transparentes que confundem nossa noção de perspectiva. Também se vê como inovação a inserção de uma história que, no livro original de Abe, era de um livro que o personagem principal lia, e que no filme surge aos pedaços em contraponto à figura doentia de Okuyama. Trata-se da trama paralela de uma bela moça que, no entanto, tem um dos lados da face desfigurado, mas enfrenta os olhares de todos mesmo assim. Embora bastante diferente, não seria exagero colocar “A Face do Outro” no mesmo patamar de “A Mulher da Areia” em termos de qualidade.
O mesmo não pode ser dito do filme que fecha a quatrilogia de Teshigahara, o noir “Moetsukita Chizu”. Considerado o mais obscuro dos quatro filmes, a obra original demarca a derrocada da popularidade das carreiras tanto de Abe quanto de Teshigahara. A trama, mais uma vez, traz pitadas nada sutis do existencialismo tão querido a ambos os artistas, contando a história de um detetive (Shintaro Katzu) contratado para descobrir o paradeiro do marido de uma mulher (Etsuko Ishihara). Obcecado pela busca infrutífera, o detetive começa a perceber que sua vida é, em vários sentidos, igual a do homem que ele procura.
“Moetsukita Chizu” é o único filme colorido e filmado em widescreen da quadrilogia. Ambas as características parecem confundir a direção de Teshigahara, que pela primeira vez não demonstra o nível de domínio extremo da mise-en-scène dos filmes anteriores, sua principal característica. Ainda assim, resulta num filme belo, tragado pelos tons terrosos no ambiente urbano, entrecortados ora por penumbras, ora por detalhes em cores quentes como amarelo e vermelho e, mais que isso, pela melancolia de seu tema. A ênfase na não-ação, aliada à dificuldade, aparentemente proposital, de criar um vínculo entre o personagem principal e o público, faz com que “Moetsukita Chizu” exija mais da paciência do espectador. Um pedido aceitável, dado o fato de que assistir a um filme de Teshigahara está longe de ser um “presente de grego” aos fãs do bom cinema.
Tanto quanto as filmografias de Nagisa Oshima ou Shohei Imamura, seus parceiros mais famosos da Nouvelle Vague francesa, a de Hiroshi Teshigahara merece uma revisita, e nada melhor que começar por uma das parcerias mais marcantes entre diferentes campos artísticos. Assistir a qualquer um desses filmes é, por si só, aula de cinema.