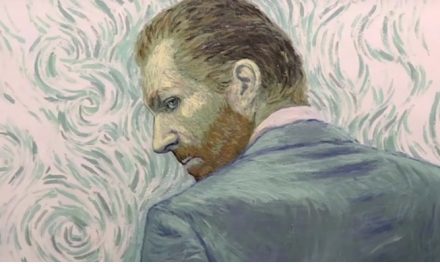Quase todo mundo quer dar uma de super-herói no cinema hoje em dia. A influência dos feitos dos personagens da Marvel e da DC dentro do cinema de blockbuster é tão grande que as pessoas hoje em dia, muitas vezes, assistem a um filme de super-herói sem perceber. Por exemplo, quando vemos em Velozes e Furiosos 6 (2013) o Vin Diesel voando pelo ar, agarrando a personagem da Michelle Rodriguez e tendo a queda “aparada” pelo para-brisa de um carro, do que mais podemos chamá-lo além de super-herói indestrutível? O superpoder dele é o de dirigir carros muito bem.
Do mesmo modo, filmes com personagens clássicos da literatura e do cinema – alguns em “domínio público”, ou seja, não é necessário pagar por direitos – também embarcaram na tendência. Nos últimos anos vimos um Sherlock Holmes capaz de lutar tão bem quanto o Neo de Matrix (1999); um vampirão se empolgando com seus poderes, igual ao Homem-Aranha no filme de Sam Raimi em Drácula: A História Nunca Contada (2014); e um monstro sarado e meio Cavaleiro das Trevas em Frankenstein: Anjos e Demônios (2014). O mais novo personagem da literatura a embarcar nessa onda é o Rei das Selvas em A Lenda de Tarzan.
Os superpoderes de Tarzan envolvem comunicação com os animais, agilidade, super-audição, destreza no cipó e uma capacidade sobre-humana de aguentar pancada, inclusive aquelas de gorilas gigantescos. E, claro, peitorais e abdome bem definidos também podem ser considerados poderosos. Ao longo da história, o herói interpretado por Alexander Skarsgård vai perdendo progressivamente as roupas – talvez os roteiristas Adam Cozad e Craig Brewer vejam isso como desenvolvimento do personagem. Em todo caso, a hora em que Skarsgård finalmente tira a camisa tem poder sobre a plateia feminina no cinema.
No inicio deste A Lenda, Tarzan está vivendo em Londres e até rejeita seu nome “da selva”, preferindo ser chamado de Lorde Greystoke ou John Clayton III. E está casado com Jane (Margot Robbie). Mas as artimanhas do rei da Bélgica logo o levarão de volta ao Congo, com Jane a tiracolo, e acompanhado do ex-soldado americano George Washington Williams (Samuel L. Jackson). Chegando lá, Tarzan e seus amigos entram em confronto com Leon Rom (Christoph Waltz), mercenário do rei belga que deseja capturar o selvagem civilizado. E em meio a isso, vemos em flashbacks a origem do Tarzan. O filme passa voando por esses momentos porque os roteiristas partem do pressuposto que todo mundo a conhece por já ter visto algum filme do personagem em algum momento da vida. Este novo Tarzan não quer ser um “filme de origem”, seu interesse é partir logo para a ação.
Os roteiristas querem fazer um Tarzan para os dias de hoje, por isso tentam dar uma suavizada nos aspectos imperialistas da criação do escritor Edgar Rice Burroughs. Ora, o personagem Tarzan traz dentro de si uma fantasia imperialista, a de que o homem (branco e inglês) consegue dominar a natureza e os povos africanos, sempre vistos como “inferiores”. Persiste dentro do personagem a ideia de que o Tarzan é um africano melhor que os próprios africanos. Lenda não é inteiramente bem sucedido ao eliminar esses aspectos do seu herói, mas tenta minimizá-los ao colocar o personagem de Jackson, um homem negro e esclarecido, ao seu lado, e ao mostrar o protagonista respeitando e tratando os nativos como amigos. Um Tarzan para tempos mais “politicamente corretos”.
Mas fora este esforço, pode se dizer que o resto do filme é preguiçoso. Ao escalar Waltz e Jackson e não lhes dar nada realmente de interessante para fazer, o filme joga para a plateia e tenta capitalizar nas nossas lembranças dos trabalhos de Quentin Tarantino com ambos os atores. Quando Jackson assume o controle de uma metralhadora e manda bala perto do final a plateia ri, mas não porque o filme trabalhou para isso. Rimos porque conhecemos Jackson de outros filmes e a sua personalidade, e o mesmo acontece com Waltz, que aqui faz o seu vigésimo vilão consecutivo com leves tiques do Coronel Landa de Bastardos Inglórios (2009), e esse tipo já está cansando. E Robbie até faz uma Jane forte, mas suas cenas no barco com Waltz e seus capangas acabam não servindo a grandes propósitos dentro da história, assim como o interesse dele por ela.
A preguiça narrativa se estende ao conflito da história entre Tarzan e o vilão Chefe Mbonga (Djimon Hounsou), resolvido com algumas linhas de diálogo e um flashback estrategicamente posicionado. Até os efeitos e a direção são acometidos por uma sensação de rotina. No mesmo ano em que visitamos a floresta perfeita de Mogli, o Menino Lobo (2016), ver a selva ocasionalmente falsa de A Lenda de Tarzan é meio triste, com o chroma-key sendo bem evidente em diversos momentos e os cenários digitais raramente convencendo. Já David Yates, o diretor – que comandou os bons filmes da fase final da saga Harry Potter – aqui, é daqueles cineastas com uma confiança excessiva na sua computação gráfica e parece desesperado em manter a atenção do público, movimentando sua câmera sem propósito claro mesmo em cenas que mostram apenas conversas entre personagens.
Num mundo em que o super-herói é a regra, no qual a grande maioria dos filmes termina com um grande conflito com criaturas em computação gráfica e possui um protagonista que se transforma num boneco de videogame de uma tomada para a outra, isso acaba paradoxalmente levando à morte do senso de espetáculo. E como muitos dos heróis de hoje, este Tarzan é sério demais e desinteressante, e a aventura ao seu redor é irregular demais para justificar sua existência. A Lenda da Tarzan é um filme feito para seguir uma tendência e existe porque a maioria das pessoas sabe quem é o protagonista – a velha ideia de “reconhecimento de marca”. Pena que essas razões não são suficientes para se fazer um filme. Afinal, adaptando a famosa frase do Síndrome de Os Incríveis (2004), num mundo onde todo mundo é herói, raros são aqueles que de fato o são.