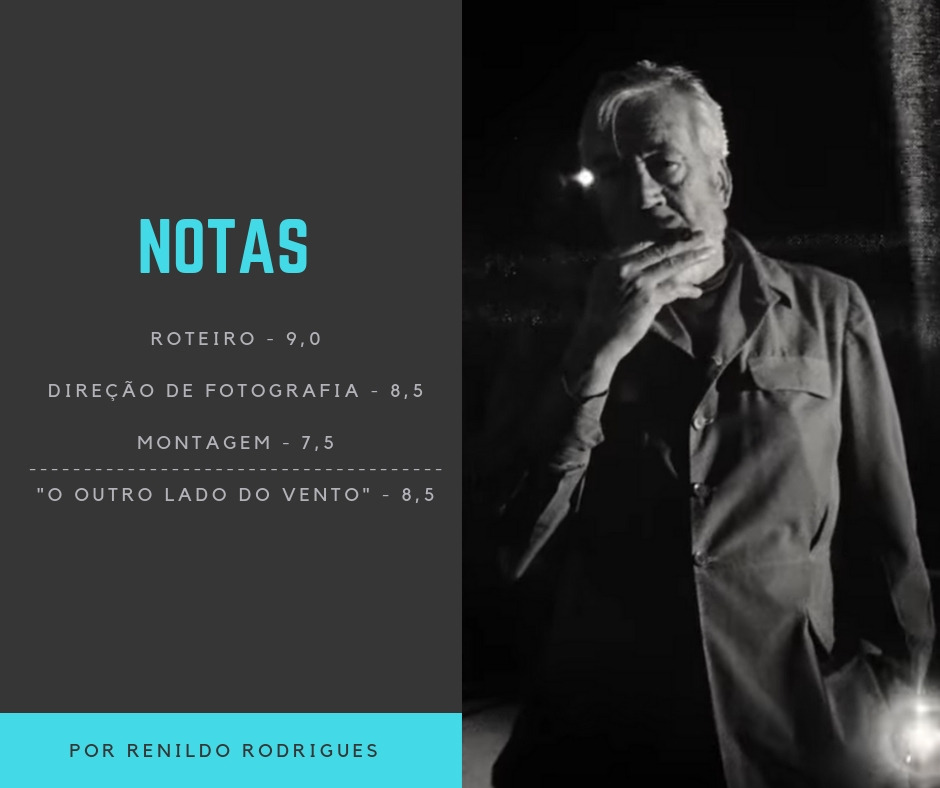Por onde começar a explicar O Outro Lado do Vento? Onde encontrar a ponta que representa o verdadeiro começo desse estranho e lindo, mas emaranhadíssimo novelo? Meu conselho, como alguém que adorou o filme, mas reconhece as suas dificuldades para um espectador de primeira viagem, é: assista antes a Serei Amado Quando Morrer, o ótimo – e estupendamente claro e didático – documentário de Morgan Neville sobre a criação do filme, e os azares quase sobrenaturais que se abateram sobre ele na pós-produção (também disponibilizado aos brasileiros pela Netflix).
[AVISO: Pra poder falar sobre O Outro Lado do Vento, acredito ser necessário resumir esse contexto da produção conturbada e do estado da carreira de Welles à época das filmagens, que são os temas do documentário de Neville. Se você quiser pular essa parte, minha opinião sobre o filme vem logo após o intertítulo]
Espécie de Santo Graal do cinema de Orson Welles, O Outro Lado do Vento tem uma narrativa extra-filme tão fascinante – e intrincada – quanto a do filme em si. Uma figura heroica do cinema americano – em 1941, ele debutaria com o sensacional Cidadão Kane, considerado por muita gente o melhor filme já feito –, Welles vinha já há décadas sem conseguir emplacar novos projetos em Hollywood. Sua última tentativa, A Marca da Maldade (1958), havia sido cruelmente arrancada de suas mãos na pós-produção, e lhe lançado a um período de errância, onde o artista teria de mendigar o financiamento para novas obras, conseguindo só a muito custo finalizar projetos como O Processo (1962), Falstaff (1965) e Verdades e Mentiras (1973).
Mas, em fins dos anos 1960, os ventos haviam mudado (sem trocadilho): o antigo studio system de Hollywood tinha sido varrido por uma nova leva de talentos rebeldes, firmemente dedicados à ideia de construir um cinema americano mais denso, multifacetado e pessoal – gente como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma e Peter Bogdanovich (este último de importância fundamental para a existência de O Outro Lado do Vento, como se verá), todos membros devotados da igreja Orson Welles. Também ajudava o fato de que o equipamento para se fazer filmes havia evoluído: as câmeras agora eram leves, portáteis e móveis, a parafernália de iluminação era bem menos pesada do que antes, e o custo para se fazer um filme havia diminuído drasticamente. Em suma: parecia que O Outro Lado do Vento finalmente estava livre para decolar.
Welles se lançou com zelo à tarefa, arregimentando um time de jovens colaboradores que topava fazer tudo pelo diretor, pelo mero privilégio de estar do lado do Homem. Mesmo o astro de O Outro Lado, o também cineasta John Huston, trabalharia por pouco mais do que a amizade e o respeito que nutria por Orson. Rodado no mesmo esquema de sacrifício e guerrilha de suas produções europeias – Welles e equipe invadiam cenários de filmes alheios para usar como locações, sequências tinham planos e contraplanos filmados com meses, e às vezes até anos, de intervalo – O Outro Lado do Vento levaria árduos seis anos, entre 1970 e 76, para ter as filmagens concluídas.
E aí, quando tudo parecia estar firmemente sob o controle de Welles, o trabalho, que já havia sido sofrido, viraria um pesadelo: dezenas de horas de filme seriam confiscadas depois que a família real do Irã, que havia sido a financiadora na etapa final das filmagens, foi derrubada do poder pela revolução fundamentalista de 1979; a edição do filme, que Welles pretendia realizar num estilo inovador, experimental, de muitos cortes e planos rápidos, era cara, e demandava novas e angustiantes jornadas em busca de financiamento; e, enfim, a saúde já trepidante do diretor interromperia o trabalho de vez. Foi só com o empenho de Peter Bogdanovich, amigo do diretor e ator na produção, e Oja Kodar, amante de Orson na época de O Outro Lado do Vento e sua atriz principal, que o filme pôde enfim ter sua montagem concluída, no distante 2018 – e a Netflix, em sua maior contribuição ao cinema até aqui, bancou a distribuição. Eis o filme que finalmente temos em mãos.

O estranho e fascinante testamento de Orson Welles
Labiríntico, verborrágico e assumidamente complicado, O Outro Lado do Vento está tão em descompasso com o jeito atual de se fazer cinema que assisti-lo é uma experiência ao mesmo tempo maravilhosa e exasperante. Há toneladas de ideias, e os diálogos do filme percorrem tantos assuntos – dos impulsos que inspiram a criação artística à masculinidade frágil – que nem muitas reassistidas dariam conta de esgotar a obra.
O enredo é um festival de metalinguagem. Há duas narrativas principais – a primeira, e a principal, gira em torno do último dia na vida de um famoso diretor de cinema, Jake Hannaford (John Huston), que ganha uma vultosa festa de aniversário de uma admiradora. Em declínio como artista, Hannaford tenta se reerguer com um filme pretensioso e turbinado em erotismo, chamado, assim como o projeto de Welles, de O Outro Lado do Vento. E a segunda é esse filme-dentro-do-filme, uma narrativa silenciosa onde um garoto (Bob Random) se apaixona por uma mulher (a atriz croata Oja Kodar, companheira de Welles à época das filmagens) e a persegue por uma série de ambientes e situações diferentes.
Há muito no filme para afirmar que se trata de uma criação nascida da mesma mente que daria ao mundo Cidadão Kane. E, no entanto, nada na filmografia de Welles até aqui – exceto, talvez, o estilo ensaístico de Verdades e Mentiras – poderia nos preparar para as surpresas de O Outro Lado do Vento. Entre elas, o uso de nudez e sexo pelo artista: Welles já havia criado cenas lindamente sugestivas e sensuais antes, mas em O Outro Lado do Vento o componente erótico é explícito e inflamado – Oja está nua em quase todas as suas aparições em cena, e há um bom pedaço de Random igualmente despido. As cenas do filme metido a artístico de Hannaford (uma clara paródia de Welles ao estilo contemplativo, de longos silêncios, de Antonioni, e ao conceito do art film em geral) estão repletas de alusões sexuais, da orgia no banheiro que Oja adentra, no começo, à sequência final, em que a sua personagem rasga um imenso balão em formato fálico. E há a já famosa sequência do sexo no carro: Welles já havia provado ser inventivo e brilhante em muitos formatos de cinema, mas o erótico era um segredo bem guardado até aqui. E essa cena, onírica e hiperrealista ao mesmo tempo, é também úmida, quente e táctil, verdadeiramente sexy – muito mais do que toda a trilogia Cinquenta Tons de Cinza sequer chegou a sugerir.
Há carradas de reflexões sobre cinema, que mostram tanto o amor de Orson pela mídia quanto o seu desprezo ao culto que ele mesmo ajudou a construir – a certa altura, um personagem indaga Hannaford sobre a natureza do cinema: “Sr. Hannaford, o senhor acha que o olhar da câmera é um reflexo da realidade, ou seria a realidade um reflexo do olhar da câmera?”. Para arrematar: “ou seria a câmera apenas um pênis?”.
O que nos leva, por sua vez, às reflexões sobre masculinidade tóxica – a meu ver, o tema mais recorrente do filme, o que sobressai de todas as longas ruminações de Hannaford e companhia, e que, de forma surpreendente, aproxima o último Welles das discussões atuais sobre a dominação destrutiva dos homens na indústria. Jake Hannaford é um personagem inspirado em Ernest Hemingway, o famoso escritor americano que era cultuado como artista, mas cuja postura de machão a todo custo arruinou inúmeras relações pessoais, e criou um modelo de masculinidade muito imitado nos EUA, para prejuízo de pelo menos duas gerações de americanos. Welles é cáustico em acusar o ridículo e as imposturas dessa atitude, chegando a sugerir fixações homoeróticas em Hannaford como a origem de seu desmazelo – e John Huston, que era inspirado não só como diretor (basta lembrar o vilão memorável que ele criaria em Chinatown [1974]), ilustra esse ponto com uma interpretação fabulosa, pelo destemor e falta de vaidade. É Huston, aliás, o centro de gravidade do filme, já que o “filme de arte” dentro de O Outro Lado do Vento é uma criação quase apenas visual, amparada muito mais no visual exótico e na beleza de Kodar do que em seu talento para a interpretação.
Mas as leituras são muitas, e o filme não faz nenhuma concessão a quem embarca nessa viagem: O Outro Lado do Vento traz inúmeras narrativas paralelas, os personagens se contam às dezenas – do jovem cineasta em ascensão vivido por Peter Bogdanovich (outro confuso espelhamento entre realidade e ficção – Welles e Bogdanovich tinham uma relação de mestre e discípulo também na vida real, e, durante algum tempo, Peter foi de fato o diretor em ascensão fulminante, enquanto Orson era o ectoplasma do jovem visionário de Kane) à crítica de cinema vivida por Susan Strasberg, passando pelo assistente de Jake, Billy Boyle (Norman Foster) e o maquiador vivido por Cameron Mitchell, cujas cenas parecem pertencer a um outro filme – e, para toda conclusão que a obra sugere, há um número equivalente de cenas e falas para contradizê-la.
Essa talvez seja a parte mais difícil para o espectador em potencial de O Outro Lado do Vento. Um filme tão ambicioso, tão preocupado em questionar e derrubar os ditames narrativos tradicionais, tão em busca de ser uma coisa nova, só poderia ficar mesmo como algo fragmentário, elusivo, e às vezes incompreensível. As dificuldades da produção fazem com que uma mesma cena tenha formatos de tela e até cores diferentes entre um plano e outro. Há momentos de grande beleza, como os enquadramentos lindamente compostos do filme fictício, e outros quase amadorísticos, como várias das cenas na festa de Hannaford. O poder do filme, para quem for capaz de apreciá-lo, é esse: a combinação de ambição e inteligência transbordantes de suas muitas ideias, em todos os aspectos, e uma quase-anarquia na forma como o filme as apresenta. Em outras palavras, uma fabulosa bagunça.
O que me ajuda a poder enfim definir esse filme: O Outro Lado do Vento, o estranho e fascinante testamento de Orson Welles, é uma realização paradoxal como raras outras experiências na tela (não me ocorrem outras, na verdade): tão visionária quanto falha, tão bela quanto torta, tão memorável quanto cansativa, e tão rica quanto auto-indulgente. O Grande Homem, como o chamava o saudoso crítico americano Roger Ebert, conseguiu sacudir o coreto de novo – e que privilégio, graças a Kodar, Bogdnovich e à Netflix, sem falar nos incansáveis admiradores que ajudaram a rodar o filme na década de 1970, poder testemunhar isso agora.