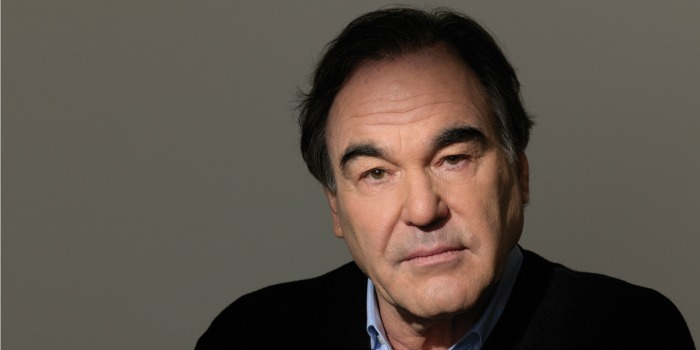Se estivesse vivo, Sergio Leone teria completado 85 anos em 2014. E quem seriam os convidados da festa? Para início de conversa, atores como Robert De Niro, Eli Wallach, James Woods, Jason Robards, Claudia Cardinale e Jennifer Connelly, o ator e diretor Clint Eastwood, os cineastas Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Vittorio de Sica e John Ford. Ou seja, o melhor que os cinemas americano e italiano produziram nas últimas cinco ou seis décadas.
E mais: nesse escrete, Leone seria considerado o capitão, a figura de proa da turma. Embora tenha feito apenas oito filmes numa carreira de quase quarenta anos, Leone é reconhecido por uma quase unanimidade de historiadores e apaixonados por cinema como um dos verdadeiros gênios que esta arte produziu em seu primeiro século de existência.
A verdade, porém, é que, em 1989, quando morreu aos 60 anos, Sergio teria achado francamente ridícula a ideia de tanta aclamação.
– –
Nascido em 1929 em Roma, a capital do antigo império e do cinema italiano, Sergio era filho do diretor Vincenzo Leone e da atriz de cinema mudo Edvige Valcarenghi, que usava o nome de Bice Waleran. Estava escrito, assim, que ele iria se tornar um nome do cinema, mas o aprendizado foi lento e paciente.
Seu começo nos filmes foi como assistente de direção em Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio De Sica, uma das obras inaugurais do neo-realismo italiano, movimento que marcou a ressurgência do cinema no país após a Segunda Guerra Mundial. Ele também escreveu diversos roteiros para épicos históricos, um gênero muito em voga nos anos 50, e trabalhou como diretor assistente em dois grandes sucessos do período, Ben-Hur (1959) e Quo Vadis (1951).
Essas duas experiências iriam marcar toda a sua carreira futura: de um lado, a aspereza, a honestidade quase brutal e os painéis humanos complexos do neo-realismo; do outro, os enormes panoramas históricos e as paisagens vastas, captadas em toda a dimensão do cinemascope, dos filmes épicos.
– –
Os primeiros filmes
Mas o homem que viria a ser conhecido como o mestre do western começou mesmo como um diretor de antiquados épicos. No início das filmagens de Os Últimos Dias de Pompeia (1959), o diretor Mario Bonnard adoeceu, e Leone, que já tinha acumulado bastante experiência no gênero, foi chamado para completar o trabalho. O filme fez sucesso e deu o sinal verde para Sergio estrear com um projeto só seu.
O Colosso de Rodes (1961), embora seja um produto típico do gênero, já revela o talento do estreante para criar suspense e, mais ainda, para fazer um orçamento minúsculo parecer uma superprodução. A recepção modesta do público, porém, mostrou que os épicos, como gênero, já eram coisa do passado.
– –
Leone sempre foi um grande admirador do western (ou faroeste, como o gênero também é conhecido no Brasil). Na adolescência, ele colecionava romances e quadrinhos sobre o Wild West, e seu ídolo máximo sempre foi o diretor americano John Ford, o criador de maravilhas como No Tempo das Diligências (1939), Caravana de Bravos (1950) e Rastros de Ódio (1956). Leone também seguia os passos de outro fã de Ford, o diretor japonês Akira Kurosawa, e seu projeto seguinte foi uma “recriação”, por assim dizer, de um filme do asiático.

Punhado também lançou uma das grandes estrelas do cinema: Clint Eastwood, o imortal caubói/galã/diretor, que, na época com 33 anos, nunca havia feito um filme importante, e cogitava seriamente desistir da carreira.
O filme foi um grande sucesso, e não só na Itália. Financiadores americanos ajudaram na segunda incursão de Leone pelo gênero, que ganhou o nome Por Uns Dólares a Mais (1965) – bastante honesto, convenhamos. Mas não se engane com o título: enquanto Punhado era um filme modesto, quase uma refilmagem de Yojimbo, de Kurosawa, a ponto de ter cenas literalmente copiadas do original japonês, em Dólares Leone finalmente mostra a que veio, com os diálogos mordazes característicos do diretor, a nova importância dada à música, e um duelo final que mostra a sua crescente sofisticação. Outro nome famoso se junta à trupe: Lee Van Cleef, que iria se notabilizar como vilão no filme seguinte do diretor, o melhor dos três ao lado de Eastwood, e – polêmica – talvez o maior western do cinema.
– –
‘Três Homens em Conflito’ e a consagração internacional

Com três horas de duração, a trama acompanha os três homens do título: Eastwood, que retorna no papel do pistoleiro sem nome (o “bom”), Van Cleef, como o cruel Angel Eyes (o “mau”) e o extraordinário Eli Wallach, como o trapaceiro Tuco (o “feio”). Procurando uma fortuna deixada por um soldado confederado em meio à Guerra Civil Americana, os três se alternam nos papéis à medida que as circunstâncias mudam, com Eastwood às vezes cruel, Wallach bom e Van Cleef frequentemente mostrando a sua pior face.
Três Homens é o primeiro exemplar da fase madura de Leone. Com tiradas impagáveis nos diálogos, momentos comoventes, de surpreendente seriedade, no miolo, e sequências de cair o queixo no início e no fim do filme, o trabalho merece esse epíteto tão desgastado pelo mau uso: obra-prima. O sucesso, claro, foi estrondoso – e um dos últimos de um gênero que, de um jeito que ninguém adivinharia, estaria extinto cinco ou seis anos depois.
O filme também marcou o fim de um ciclo para Leone. Tendo provado sua perícia no western e feito jus a seus ídolos, o diretor estava pronto para seguir outro caminho. Escolheu um romance sobre a ascensão do crime organizado nos Estados Unidos, The Hoods, escrito pelo ex-mafioso Harry Grey, e começou a esboçar um roteiro que, quase vinte anos depois, iria virar Era Uma Vez na América. Seus sucessos no faroeste, porém, iriam fazer essa mudança levar tempo.
– –
Sucesso nas bilheterias, mais do mesmo nos filmes

Levando a tendência operística de Três Homens a um novo patamar, o diretor, junto com os roteiristas (e futuros cineastas) Bernardo Bertolucci e Dario Argento, criou uma história de vingança elementar, brutal, envolvendo um pistoleiro misterioso (Charles Bronson – sim, o próprio) e um dono de terras ambicioso e cruel (Henry Fonda, em seu único e brilhante trabalho como vilão). Trazendo ainda a estrela italiana Claudia Cardinale e o grande Jason Robards, o filme é mais um belíssimo tour de force, com todas as marcas registradas de Leone – diálogos, atuações, música, montagem, fotografia, cenas de ação e duelos – mas é também, de certa forma, um repeteco – afinal, tendo levado sua fórmula ao limite com o filme anterior, Oeste, bom como for (e é um filme extraordinário, no less) não traz novidades significativas à sua obra.
A mesma sensação acomete o filme seguinte, Quando Explode a Vingança (1971). Mais uma vez, Leone não queria dirigir o trabalho, mas ele não gostou do que o diretor convidado, o americano Peter Bogdanovich (de A Última Sessão de Cinema e Lua de Papel) estava fazendo, e assumiu a tarefa.
Trazendo outro painel histórico de vulto, Vingança conta a história da improvável parceria entre Juan Miranda (Rod Steiger, num papel similar ao Tuco de Três Homens), um assaltante mexicano fanfarrão e ignorante, e John Mallory (James Coburn, o equivalente de Clint), um refugiado irlandês especialista em explosivos. Ambientado na Revolução Mexicana, Vingança, embora seja mais do mesmo, assim como Oeste, também é cheio de pequenos tesouros, como a impagável abertura, o grande tiroteio na cena da ponte ou a complexidade moral com que o filme discute a revolução.
Trazendo ousadias perigosas para o público americano – o filme abre com uma citação do líder comunista Mao-Tsé Tung! –, Vingança acabou sofrendo alterações na montagem, e foi desse jeito, meio truncado, que o filme chegou ao país, para desgosto de Leone e indiferença do público. Esse revés iria abalar seriamente suas pretensões para o próximo trabalho.
– –
‘Era uma Vez na América’: o colapso

Enquanto o financiamento não saía, Leone atacava de produtor, emplacando alguns sucessos, como o faroeste Meu Nome é Ninguém (1973), dirigido por Tonino Valerii, e três filmes em parceria com o comediante italiano Carlo Verdone. O sinal verde para seu próprio projeto só viria em meados dos anos 80, mas a espera até que não foi de todo ruim: afinal, com o “cinema de autor” em voga nos Estados Unidos, e uma nova geração de talentos no elenco e na parte técnica, Leone tinha a melhor equipe possível para fazer aquele que imaginava ser seu maior filme.
Em certos sentidos, Era uma Vez na América (1984) é mesmo. Ao menos na primeira parte, a que mostra a infância dos protagonistas Noodles (Robert De Niro) e Max (James Woods), o filme revela um potencial fantástico, com sequências que mostram um novo e mais sensível lado do cineasta – o qual, não esqueçamos, é o supremo criador dos lobos solitários do Oeste, homens com motivações mesquinhas, capazes de derramar sangue à menor provocação. Aqui, os temas são outros: amizade, lealdade, a descoberta do amor, a energia e insensatez juvenis, a melancolia e os arrependimentos da velhice. Temas, aliás, diferentes, mas não estranhos à obra do cineasta, que já abordou uma ou outra coisa em seus grandes westerns.
Ao mesmo tempo, uma meditação sobre os descaminhos e a violência que estão na raiz da experiência americana, América prometia ser o supremo triunfo do diretor italiano, que, numa virada espetacular, se transformou num dos mais formidáveis cronistas da terra dos bravos.
– –
Infelizmente, porém, deu tudo errado. A filmagem transcorreu sem maiores problemas, mas, quando o filme chegou à pós-produção, Leone viveu uma sequência assustadora de reveses. Primeiro, a sua montagem original de quatro horas e meia, repleta de idas e vindas no tempo e sem maior preocupação com a ordem cronológica (embora longe de ser confusa), não agradou à Warner, a distribuidora do filme, e Leone acabou sendo forçado a cortar parte do material.
Mas mesmo a nova versão (com 3 horas e 50 minutos) acabou vetada, devido ao insucesso financeiro e de crítica de 1900, épico de duração similar do amigo de Leone, Bernardo Bertolucci. À sua revelia, e sem a sua aprovação, uma nova montagem, de 2 horas e 20 minutos, que purgava as complexidades da narrativa e organizava as sequências em ordem cronológica, foi lançada nos Estados Unidos, para desagrado geral de público e crítica. O desastre financeiro foi tamanho que o filme, que saiu a um custo de U$ 30 milhões, não rendeu nem cinco na bilheteria americana, e acabou saindo de cartaz em menos de um mês.
A versão mais longa, de quatro horas, por sua vez, foi aclamada na Europa, sobretudo na França, e críticos americanos que haviam visto o corte original, como o americano Roger Ebert, denunciaram o malfeito da Warner, piorando ainda mais a situação do filme nos Estados Unidos. A polêmica e o insucesso devastaram Leone, que já tinha sofrido com o revés de Quando Explode a Vingança. Era Uma Vez na América acabou sendo seu último filme.
Os problemas não páram aí. Leone, profundamente magoado, voltou à Europa, onde ainda fez trabalhos como produtor e dirigiu comerciais de TV, vários deles aclamados em premiações do gênero. Mas, aos 60 anos, e com projetos que não passavam de esboços, o diretor sofreu um ataque cardíaco fulminante, numa manhã de abril de 1989. Para várias pessoas que trabalharam com ele e sabiam do seu amor pelo projeto América, porém, a causa da sua morte não foi infarto, mas sim um coração partido.
– –
O supremo diretor ítalo-americano não chegou a ver a montagem original de Era uma Vez na América nos cinemas, e esta só chegou a nós, e ainda assim com cortes, neste ano, numa edição especial em Blu-Ray. Tendo investido quase toda a sua vida em temas e personagens essencialmente americanos, ainda que italianos na sensibilidade e no pendor operístico de suas tramas, Leone deixou sua influência mais profunda nos Estados Unidos, e alguns dos maiores diretores do país na atualidade não cansam de exaltar sua vida e obra.
Clint Eastwood dedicou seu maior filme, Os Imperdoáveis (1992), à memória de Leone. Tarantino, que nunca deixa de citá-lo em entrevistas, espera um dia “conseguir fazer um final tão perfeito quanto o de Três Homens em Conflito”. De Niro e Scorsese foram os responsáveis pelo restauro e reconstrução da montagem idealizada por Leone para Era uma Vez na América. Seja na honestidade e secura dos filmes de Eastwood, nos diálogos brilhantes e tramas barrocas de Tarantino, ou no escopo épico dos melhores trabalhos de Scorsese, Sergio Leone continua sendo um rastilho, um fogo vital que anima boa parte do cinema digno de ser chamado “arte” hoje em dia. Conhecer seus filmes não é só uma diversão: é uma necessidade, um estado de maravilhamento que só o grande cinema pode proporcionar.