Uma das tarefas da crítica de cinema, talvez a mais ingrata delas, é a de eleger os melhores filmes de um festival, de um determinado ano, de uma década – todas precárias apostas contra a posteridade, mesmo que o tempo, o conhecimento e o amor ao cinema nos pareçam imbuir de um olhar atilado para essas coisas. Mas o cinema não é uma ciência exata, e é muito comum que filmes bons, mas não sensacionais, corram na frente dos verdadeiros merecedores quando se tenta montar uma seleção dessas.
É sabendo disso que hoje, no Cine SET, apresentamos dez filmes dos últimos dez anos que têm boas chances de ascender àquele escalão de clássicos e obras-primas da Sétima Arte, o tipo de filme que marca uma época, define um padrão de qualidade e execução, persiste na memória. Sem nenhuma ordem de tempo, país ou gênero, a lista de hoje parte apenas da percepção de que, por sua qualidade e impacto à época do lançamento, essas obras vão continuar sendo admiradas, discutidas e estudadas por muito tempo ainda. É viver e conferir.

10. O Som ao Redor (2013)
Sem muito alarde, a estreia do crítico Kleber Mendonça Filho na direção de longas-metragens colocou um novo país na telona – tenso, desconfiado, de ricos, assalariados e pobres espremidos em condomínios fechados, e repetindo, em novas e sutis variações, velhos preconceitos, violências, boçalidades.
É esse Brasil enormemente frustrado que o cineasta pernambucano radiografou com humor e alguma perplexidade em O Som ao Redor, a amarga crônica das novas decepções e velhas feridas reabertas da nação, no lugar do histrionismo otimista de Tropa de Elite 2 (2010). Em meio à poesia mais lírica de Karim Aïnouz (Praia do Futuro), Anna Muylaert (Que Horas Ela Volta?) e Hilton Lacerda (Tatuagem), ou à contundência seca de Cláudio Assis (Febre do Rato), O Som ao Redor é o mais provável candidato a referência dessa época no cinema brasileiro.

9. Moonrise Kingdom (2009)
Wes Anderson vinha de um período de incerteza em 2009, quando lançou Moonrise Kingdom. Um dos nomes mais promissores do cinema independente dos primeiros anos 2000, com Três é Demais (1998) e Os Excêntricos Tenenbaums (2001), Anderson vira seu poder de fabulista reduzido a exercícios de estilo meio egocêntricos, como A Vida Marinha com Steve Zissou (2004). Por isso, o espanto diante deste filme.
Trazendo de volta o âmago humano e o drama sutil e nostálgico de suas primeiras obras, mas levando-os a outra escala de empatia e comoção, Moonrise Kingdom combina idealismo e melancolia em sua história de amor juvenil, com referências ao cinema francês e italiano da década de 1960. Dando uma banana ao estilo realista e documental tão em voga nesses últimos dez anos, Anderson mostra como o cinema é mais tocante quanto mais voltado a si mesmo, a suas qualidades especiais enquanto arte. Uma lição que maravilhas como Holy Motors (2012), de Leos Carax, ilustram de maneira ainda mais radical.

8. O Ato de Matar (2012)
Assim como o poder inerente do cinema reavivou a ficção de Wes Anderson, Joshua Oppenheimer usou os códigos da Sétima Arte para exacerbar o absurdo da situação denunciada no inclassificável O Ato de Matar.
A princípio, um documentário, partindo de entrevistas com militares que participaram dos massacres na Indonésia na década de 1960, o filme também traz reencenações, a critério dos entrevistados, dos assassinatos, que tanto podem ir de um bizarro número musical num restaurante em forma de peixe quanto para um teatro em que o próprio assassino faz o papel da vítima, com resultados ainda mais insólitos e perturbadores do que as falas despreocupadas, e até orgulhosas, dos facínoras.
O documentário (por assim dizer) mais inusitado e chocante dos últimos anos é também um tributo ao poder da imagem, um jeito novo, e provavelmente irrepetível, de fazer cinema.

7. A Rede Social (2010)
Os filmes também ajudam a explicar os fenômenos da sociedade – departamento em que ninguém foi tão agudo e urgente quanto David Fincher, em A Rede Social.
Numa carreira impecável, que foi do videoclipe ao cinema hollywoodiano, da ação mais desbragada ao drama e sarcasmo, o americano resolveu investigar a fundo o fenômeno das redes sociais – especificamente, a maior delas, o Facebook, e seu criador, Mark Zuckerberg.
Mostrando como a arrogância, a inadequação e o desejo de poder de um estudante universitário coadunaram numa obra de impacto social novo e vasto, influenciando até em revoluções políticas pelo mundo, A Rede Social diz muito, e raramente de forma agradável, sobre nós todos. O único rival possível no gume e no ímpeto com que o filme escancara as entranhas do sucesso e do sonho americano em sua versão atual é O Lobo de Wall Street (2013), de Martin Scorsese, outra vertiginosa jornada pelo poder e pela riqueza nas mãos de um indivíduo com poucos escrúpulos.

6. Sangue Negro (2007)
Um dos anos mais ricos da produção americana recente, 2007 legou um clássico indiscutível, Onde os Fracos Não têm Vez, de Joel e Ethan Coen, e um dos filmes mais potentes e controversos do cinema nesses poucos anos, Sangue Negro.
A obra-prima de Paul Thomas Anderson levou o cinema do prodígio de Hollywood a novas e distantes esferas, onde seus painéis humanos se misturam agora a paisagens vastas e tragédias de proporções similares. Colocando frente a frente o explorador de petróleo Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) e o pastor Eli Sunday (Paul Dano), o diretor encontra na confluência e no choque entre a religião e a riqueza os elementos da civilização americana – e também da barbárie.
Com atuações elétricas, espantosas, vistas épicas e a trilha inquietante de Jonny Greenwood, Sangue Negro é uma das grandes realizações do cinema neste decênio – e em qualquer época.

5. Boyhood: Da Infância à Juventude (2014)
Há muito bordejando a indústria com seus filmes ricos, variados e quase sempre pessoais, Richard Linklater parecia condenado a ser um herói das multidinhas, não do grande público. Tudo mudou com Boyhood: Da Infância à Juventude.
Levando inacreditáveis 12 anos em produção, o filme acompanha o crescimento e as experiências de Mason (Ellar Coltrane) da infância até a entrada na universidade. Acompanha in loco, ao pé da letra: como nenhum outro filme sequer cogitou fazer antes, Boyhood registra as mudanças físicas e emocionais de Mason em tempo real, isto é, vemos o garoto mudar de figura ao longo da projeção.
Se fosse só isso, porém, Boyhood seria uma impressionante curiosidade, e não um filme para ser lembrado por si. Acontece que, da mesma forma que em Azul é a Cor mais Quente (2013), de Abdellatif Kechiche, o filme de Linklater traz um olhar especial, lírico, delicado, sempre fugindo ao óbvio, sobre as agruras de crescer. Nada de primeiro beijo, primeira transa, primeira namorada: a vida, aqui, está em brincar com os amigos, viajar de carro com a família, ver os pais se afastando e se reaproximando – a matéria mais banal, e talvez a mais verdadeira em seu encanto corriqueiro, da vida. Comunicar isso em filme é um mérito para as gerações.

4. Ela (2013)
Documentar ou denunciar uma realidade é uma coisa. Agora, usar um aspecto dela como mote (absurdo, aliás) para uma história lírica, singela e desconcertante em sua delicadeza é coisa para um mestre. Foi a realização de Spike Jonze em Ela.
Uma espécie de sonho, intoxicante, efêmero, o filme parte da história de amor entre Theodore (Joaquin Phoenix) e a “consciência virtual” Samantha (Scarlett Johansson, de quem só ouvimos a voz) para discutir a eterna insatisfação e incompletude dos relacionamentos, não importa entre quais seres pensantes e de que formato.
Conduzido com mão firme e segura pelo cineasta infrequente, com atuações maravilhosamente humanas de Phoenix e Johansson, esta talvez em seu maior desempenho na carreira, Ela não avassalou as premiações em seu ano de lançamento, mas, com o passar do tempo, vem se provando um dos filmes mais marcantes e, principalmente, comoventes a integrar o cânone.

3. Mad Max: Estrada da Fúria (2015)
O superlativo se provou certo, pelo menos uma vez – Mad Max: Estrada da Fúria é de fato uma coisa nova no cinema. E, certamente, veio de onde menos se esperava: um diretor veterano (George Miller), reavivando uma franquia que foi divertida e até marcante em sua época, mas que não chegou a fazer maior espuma.
O engraçado é que o que faz de Mad Max uma coisa nova é uma aposta alucinada no… realismo. Uma das palavras mais antipáticas do cinema, espécie de selo de qualidade contra a bobagem e a alienação, o realismo é uma pedra no calcanhar de quem deseja que o cinema possa ser apenas, ora bolas, cinema. Unindo a atenção ao detalhe e o impacto que a sensação de realismo faz provocar no espectador, e que são as marcas de, digamos, uma Kahtryn Bigelow (Guerra ao Terror) ou um Paul Greengrass (Capitão Phillips), Mad Max traz stunts incríveis de dublês envolvendo alturas, caminhões em movimento e mastros balançando, filmados em planos vastos, com centenas de figurantes.
Eis um filme cujo conteúdo é, literalmente, o que se vê na tela: a fuga insana de Max (Tom Hardy) e Imperatriz Furiosa (Charlize Theron, fenomenal) dos domínios desolados e corrompidos de Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne). Nada de ponto de vista, psicologia, “mensagem do autor” – só o thrill incomparável de ver muita gente correndo risco de vida e fazendo coisas loucas na tela. Único, arrebatador, Mad Max já nasceu na história do cinema.

2. Vidas ao Vento (2013)
A Pixar fez muitas coisas maravilhosas nesses dez anos: Ratatouille (2007), Wall-E (2008), Up: Altas Aventuras (2009), Toy Story 3 (2010) e Divertida Mente (2015) foram apenas algumas das joias a adornarem a coroa do melhor estúdio americano de animação da atualidade. Mas foi o filme que marcou a despedida do mestre japonês Hayao Miyazaki que fez convulsionar o coração dos amantes dessa arte.
Há muito um defensor ferrenho da animação artesanal, lindamente detalhada e colorida, Miyazaki tem os créditos mais imponentes do mundo do desenho desde Walt Disney: de Lupin III: O Castelo de Cagliostro (1979) até hoje, foram 11 filmes exemplares, profundos, comoventes, engraçados, líricos. Uma filmografia marcada pela dedicação à beleza e pelo otimismo em relação ao futuro da humanidade. Mas, para sua obra final, Miyazaki escolheu não só um personagem real – o projetista de aviões Jiro Horikoshi, que prosperou como fabricante de máquinas na Segunda Guerra Mundial –, uma novidade em sua carreira, como deixou, pela primeira vez, a insegurança o desencanto em relação às coisas humanas se infiltrarem em sua visão de mundo.
Apesar do personagem e sua ocupação, Vidas ao Vento é uma história de amor crepuscular, sombreado pelas difíceis escolhas dos protagonistas. Em sua busca da perfeição no ofício, Jiro renuncia à felicidade, só para ver a derrota de suas supermáquinas e o aproveitamento de seu gênio unicamente para a barbárie. Com algumas das cenas mais belas que a animação – qualquer animação – já foi capaz de produzir, Vidas ao Vento é um conto maduro, melancólico, outonal, como o também belíssimo O Conto da Princesa Kaguya (2015), de seu colega de Studio Ghilbi, Isao Takahata – mas vale cada minuto empenhado na experiência.

1. A Separação (2011)
Eleger qualquer filme como o melhor da década é sempre uma coisa temerária, mas, se é para escolher algum, que seja este aqui. O mais inquietante conto moral produzido por um cineasta em muito tempo, A Separação é um filme para demolir as certezas.
O mote é o mais simples possível: um casal resolve se separar por força das circunstâncias – ela (Leila Hatami) deseja deixar o Irã; ele (Peyman Moaadi) precisa ficar, para cuidar do pai doente – e, no curso das semanas seguintes, conhecemos suas dificuldades e dilemas, enquanto a filha (Sarina Farhadi) decide com qual dos dois quer ficar.
À primeira vista tão simples, a estrutura narrativa do filme é adensada por uma série de episódios fortuitos, que irão resvalar em atitudes menos nobres como mentiras, preconceito e violência. Numa terrível exposição do caráter, a obra do cineasta Asghar Farhadi nos apresenta pessoas absolutamente decentes, confiáveis, mas que, submetidas à pressão dos acontecimentos, acabam por revelar sua pior natureza.
Entre atuações magistrais de todo o elenco, um roteiro magnífico (do próprio diretor), cheio de camadas sutilíssimas e surpreendentes, e uma direção sensível, potente, em pleno domínio do drama, A Separação é uma aula de cinema, e o candidato mais evidente a ser referenciado, canonizado, incorporado ao rol dos clássicos – numa palavra, e mais que merecidamente, imortalizado.
*Texto original alterado para substituir a equivocada expressão humor negro.










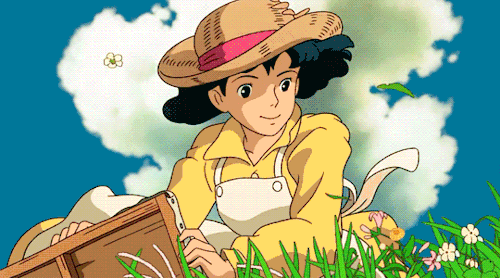
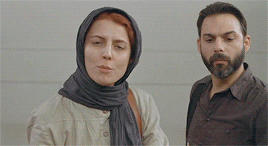















A atuação do Day-Lewis em Sangue Negro é uma das maiores já feitas. Baita lista!