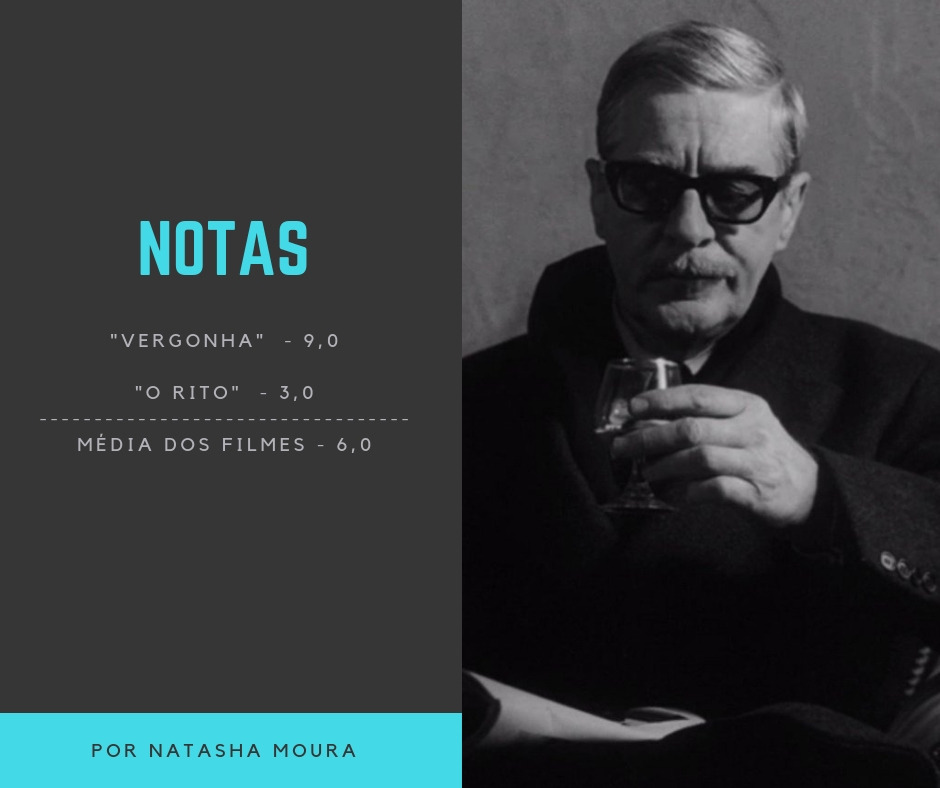Estudo da guerra feito por Ingmar Bergman, Vergonha transcende a constante nos filmes do diretor em destrinchar os conflitos internos para algo além dele mesmo. Antes do lançamento de “Persona”, o diretor havia sido alvo de críticas por não se posicionar aos acontecimentos da Guerra do Vietnam. Pouco depois, com sua grande obra-prima, o cineasta “quebrou” esse silêncio ao inserir imagens reais do conflito como protesto, contudo apenas dois anos depois ele se voltou ao tema por completo, e o resultado foi Vergonha.
Eva (Liv Ullmann) e Jan Rosenberg (Max von Sydow), dois músicos exilados em uma ilha báltica, vivem uma vida rural e tranquila. Fugindo da guerra civil já vívida nas grandes cidades, o casal é surpreendido pela chegado dos militares ao lugar. A medida que os eventos se tornam mais agressivos, e suas rotinas são corrompidas, a personalidade deles começa a se deteriorar.
O filme inicia expondo os eventos da guerra – a primeira invasão, os interrogatórios das autoridades – para, então, trabalhar os efeitos do conflito na vida dos indivíduos. Escapando um pouco a exibição sem reservas da violência física nos filmes sobre tema, Vergonha explora, especialmente na segunda parte, a violência interna, culminante na degradação humana, causada pela presença da guerra nos mínimos detalhes cotidianos. Para Bergman, a ideia era mostrar o momento em “a sociedade para de funcionar, os personagens perdem a referência. Suas relações sociais acabam”. Isso é bem observando, como o diretor mesmo pontuou, nas mudanças de atitude do casal de músicos. No início, Jan é um homem sensível aos horrores do conflito, até então distante da sua realidade. Por outro lado, Eva parece conformada e indiferente. Quando a armada finalmente chega a ilha, a mudança íntima inicia. Confrontados pela crueldade e tirania dos agentes, suas ações vão ganhando outros contornos. Jan comete atos agressivos para autoproteção, e Eva desaba emocionalmente.
Nos ínfimos detalhes, Bergman flagra a imoralidade bárbara dos grupos que defendem os interesses do poder, contra cidadãos reduzidos a indivíduos sem diretos ou valor algum. O elenco principal formado por Liv, Max e Gunnar Björnstrand é, como de costume, espetacular, além da harmonia ímpar entre eles. Entretanto, a performance de Ullmann é o ponto alto do longa. Uma interpretação – que pessoalmente é minha favorita da sua parceria com Bergman, entregue aos contrastes da personagem, bem como sua evolução, ou involução, no drama. Assim como Liv, Sven Nykvist nos concede uma de suas melhores fotografias, perfeitamente alinhada à claustrofobia e incerteza do tema. Bergman não gostou do resultado final de Vergonha, ainda assim a obra é digna dos principais trabalhos do diretor. Constitui o que de melhor o cineasta e seus parceiros artísticos tem para entregar.

O RITO (RITEN), 1969
Ao longo da carreira Bergman sofreu intensamente pela censura sueca. Inspirado pelo teatro grego antigo, onde as performances eram intimamente ligadas às tradições religiosas, bem como pela sua experiência frustrante como dirigente do Royal Dramatic Theater, o diretor dirigiu O Rito. Quase uma resposta ao moralismo das instituições, o pequeno filme para televisão, criado e finalizado em poucas semanas, conta com um texto e imagens afiadas.
Três atores, Thea (Ingrid Thulin), Winkelmann (Gunnar Björnstrand) e Sebastian (Anders Ek) rodam a Europa encenando uma peça definida como o Ritual. Em uma das paradas da tour, o trio é indiciado em uma investigação conduzida por um juiz truculento, dado o conteúdo das apresentações. Acusados de obscenidade, os artistas sofrem com as investidas agressivas de Abrahamsson (Erik Hell), autoridade responsável pelo caso. Reprimidos pela profissão, sua expressão artística, e o falso moralismo dos inquisidores, o grupo tem seu ápice ao encenar o ritual para o juiz.
Composto por nove cenas, a sequência narra cronologicamente a condução das investigações até seu fatídico fim. O texto enxuto, usa e abusa de elementos provocativos, como utilização acentuada de nudez e insinuações sexuais, certo apelo a sensualidade. Nesse ponto, o longa é diferente das obras anteriores do diretor. Bergman não era um pudico, mas ao longo da extensa filmografia, pouquíssimas obras apresentam algum nível de nudez. Dois exemplos são: “Chove Sobre Nosso Amor“, seu segundo filme, onde mostra os seios da atriz Barbro Kollberg, e o “Silêncio“, nas cenas protagonizadas por Gunnel Lindblom. O uso é bem colocado na proposta do filme, além de esteticamente favorável às intenções do cineasta que não comete nenhuma exploração gratuita.
A pessoa indicada a julgar a suposta devassidão contida nos números do grupo, é quem acaba cometendo o maior atentado de todos: um estupro. Em nome de uma suposta moral que despreza quem não se encaixa nos seus padrões, Bergman expõe a perversão dos acusadores, muito mais grave e criminosa. Contudo, a crítica do diretor parece ter pouca força. Bergman não consegue criar uma atmosfera convidativa para o espectador, falta conexão. O elenco é, sem surpresas e por óbvio, o melhor do filme. Não há o que questionar da perfeita sintonia que o cineasta criou entre seus atores – e amigos. Infelizmente, a fineza das interpretações não supre a ineficiência do roteiro para uma boa peça de cinema. Entretanto, a afronta sagaz contra essas instituições de poder inescrupulosas, coloca bem o necessário papel da arte como manifestação política.