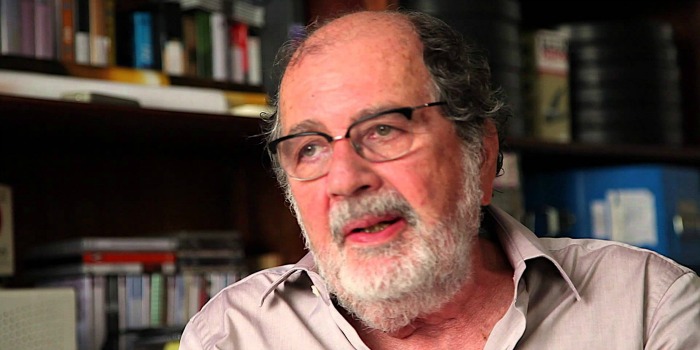A arte brasileira sempre sai perdendo nos momentos de crise. Quando as turbulências começam a afetar o caixa de prefeituras e governos, os primeiros cortes acontecem – logo onde? – na cultura. Exposições, oficinas e espaços de incentivo à produção logo são desfeitos (“pra que gastar o dinheiro do povo com um festival de jazz?”, foi o que eu ouvi mais vezes), interrompendo a formação contínua de artistas, e congelando a arte brasileira num eterno começo.
Se é assim hoje, em que a produção nacional off-Globo Filmes luta pra seguir produzindo, como não terá sido no vácuo das décadas de 1970 e 80, em que toda a arte nacional estava subordinada à censura oficial da ditadura, e em que um órgão federal (a Embrafilme) detinha poderes absolutos sobre o financiamento e a realização de filmes? Pois foi nesse período de trevas que a arte de Héctor Babenco triunfou, legando as obras brasileiras mais significativas daquela época, e ajudando o cinema nacional a respirar além das pornochanchadas e da masturbação intelectual dos filmes ditos artísticos, que se pode conferir (e rir com) no Canal Brasil hoje em dia.
Juntamente com Cacá Diegues, Héctor Eduardo Babenco é a figura mais importante do cinema brasileiro no período entre o Cinema Novo e a chamada Retomada (leia-se: dos anos 1960 aos 90). Se considerarmos que Diegues é egresso do Cinema Novo, talvez Babenco seja o cineasta definidor daquela época, com sua habilidade única de fazer filmes sérios, de alto nível artístico e abordando temas sociais e políticos incômodos para a época do “milagre”. Não que fosse o único, claro, mas a qualidade e repercussão de seus trabalhos, até hoje, o colocam na linha de frente da filmografia daquele estranho período.
Curiosamente, um dos maiores cineastas brasileiros é… argentino! Não que isso faça qualquer diferença, mas, comparado aos colegas de geração, o olhar poético e agudo de Babenco sobre os problemas brasileiros o colocam léguas à frente da típica produção nacional, mais empenhada em filmes-tese sobre o país ou filmes “marginais”, que dão voz aos desfavorecidos do sistema (Diegues, por sinal, também escorregou nessas pretensões).
É importante frisar a expressão; afinal, a pobreza urbana foi uma preocupação central da arte brasileira na década de 1970. A industrialização nos anos da ditadura atraiu multidões de migrantes do Norte e Nordeste para as grandes capitais, acirrando as já terríveis condições de vida nas favelas e subúrbios, e fazendo explodir a desigualdade, o preconceito e a violência. Um novo personagem brasileiro ganhou os livros, discos e filmes nessa época: o miserável, espremido nos casebres dos morros, acossado por traficantes e policiais, sendo empurrado para o crime. Em mãos menos engajadas e demagógicas, esse material rendeu obras pungentes: os contos de Rubem Fonseca, as canções de Chico Buarque e João Bosco, os filmes de Héctor Babenco.
—
Nascido em 1946 em Buenos Aires, numa família de origem judaico-polonesa, Babenco teve uma criação culta e cosmopolita. No início da década de 60, ele morou com os pais na Europa, onde conheceu, in loco, a efervescência dos cinemas novos na França, Itália, Alemanha e Polônia. Chegou a trabalhar como figurante em filmes de cineastas europeus, sobretudo italianos, como Sergio Corbucci (do Django original) e Giorgio Ferroni. Em 1969, aos 23 anos, ele decidiu se estabelecer em São Paulo, adquirindo a cidadania brasileira e já armando os primeiros contatos na indústria nacional de cinema. Seu primeiro filme foi o documentário O Fabuloso Fittipaldi (1973), sobre o jovem piloto que, à época, tinha conquistado o primeiro título do Brasil na Fórmula 1. Mas sua estreia para valer seria com o drama O Rei da Noite (1975). Com grandes atuações de Paulo José e Marília Pêra, o filme ainda assim sofre com a inexperiência de seu realizador: com um tom artificial, exagerado, de um romantismo que não combina com o cineasta ágil e humanista que Babenco logo se tornaria, Rei pelo menos já faz vislumbrar o grande talento do cineasta para a criação de imagens marcantes. Elementos dessas duas tentativas, a documental e a da ficção, fariam a receita dar liga no seu filme seguinte: Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1977).
Foi como se a primeira vez não tivesse valido. Com Lúcio Flávio, que narra (não sem algumas adaptações dramatúrgicas) a história do criminoso que sacudiu o Brasil no início da década, Babenco apresenta suas armas: uma narrativa simples (coisa mais difícil do que parece), expressiva, personagens bem desenvolvidos (sempre com atuações acima da média, mesmo que sejam os meninos de Pixote) e uma realidade contundente animando as situações. No caso de Lúcio, a corrupção e a existência de esquadrões de extermínio na polícia brasileira. Sucesso de crítica e público, premiado em Gramado, Lúcio Flávio foi a plataforma de Babenco para a produção A, moral que ele utilizaria para tornar possível seu novo – e definitivo – testemunho sobre o país.
Em Pixote – A Lei do Mais Fraco (1980), tudo soa real, de um jeito que o cinema brasileiro ainda não sabia ser possível. Do prólogo documental, que apresenta a paupérrima comunidade onde vive o protagonista, Fernando Ramos da Silva (de onde, por sinal, ele não conseguiu sair – apesar do sucesso do filme e de ofertas de trabalho até na Globo, Fernando caiu no crime e foi morto por policiais antes de completar 20 anos), até o desolador final na ferrovia, passando pela comovente Pietà entre Pixote e a prostituta Sueli (Marília Pêra), Pixote é uma demonstração incrível do poder do cinema. Longe das teses dos livros e da tristeza das canções, os meninos abandonados de Pixote apenas vivem como podem, entre o futebol no reformatório, os pequenos roubos na cidade e a esperança de um banho de mar, uma pistola que imponha respeito, um teto. Sem teses, sem julgamentos, apenas com a força das imagens e a maravilhosa naturalidade de seu elenco mirim, Babenco conjurou essa criatura tão difícil, que parece ter especial aversão às telas nacionais: uma obra-prima.
A repercussão, nacional e internacional, de Pixote foi imensa: desde os tempos do neorrealismo italiano não se via um drama tão contundente (e, por outro lado, tão lírico) sobre a miséria. Babenco passou a ser cortejado por grandes estúdios americanos. E, num precedente também inédito para o cinema brasileiro, ele tinha coisas a dizer em outras línguas.
(O precedente só é novo porque Glauber Rocha, igualmente celebrado no exterior, não conseguiu um átomo da repercussão de suas primeiras obras com os filmes do exílio europeu)
—
O primeiro trabalho de Babenco para o mercado internacional, O Beijo da Mulher-Aranha (1985) é um clássico dos anos 1980. Com William Hurt e Raul Julia como dois presos políticos numa penitenciária brasileira, forjando uma insólita amizade baseada em filmes, a obra poetiza o drama vivido pelos países da América Latina, quase todos, à época, ainda à mercê de ditaduras. Rodado com pouco dinheiro (diz-se que os protagonistas Julia e Hurt trabalharam de graça, recebendo apenas o necessário para a hospedagem e a alimentação), Beijo foi um enorme sucesso internacional, tornando Babenco o primeiro diretor latino indicado ao Oscar (Hurt arrematou a estatueta por seu trabalho no filme). Como diria Tom Jobim, não restava outra saída que não a do Galeão.
Curiosamente (de novo), os filmes de Babenco com produção americana ficaram abaixo das expectativas, mesmo reunindo astros como Meryl Streep, Jack Nicholson e Daryl Hannah. Ironweed (1987) e Brincando nos Campos do Senhor (1991) são, sem dúvida, ousados, inteligentes e bem executados, além de trazerem a marca humanista do diretor, que volta seu olhar para os mendigos (no primeiro) e os povos indígenas (no segundo). Mas a impressão que se tem é que ambos passaram do ponto: enquanto Pixote e Mulher-Aranha eram enxutos, diretos, suas obras americanas arriscam a força dramática por um maior adensamento dos personagens e do roteiro. Os filmes foram considerados “artísticos” demais pelo grande público, o que, previsivelmente, minou novas chances de Babenco no mercado mais competitivo do mundo.
Apesar da frustração com a experiência americana, Héctor Babenco continua a ser um dos maiores diretores em atividade no continente. Um câncer sofrido em 1994 foi a base para seu filme mais autobiográfico – e também um dos mais belos: Coração Iluminado (1998). A obra traz o conterrâneo Miguel Ángel Solá como um diretor de cinema que relembra a paixão por Ana (Maria Luísa Mendonça), mas de um jeito visceral, lírico, numa chave nova e surpreendentemente romântica para Babenco. Infelizmente, o filme passou em branco por críticos e plateias, tanto aqui como lá fora. Como o seu maior trabalho depois de O Beijo da Mulher-Aranha, urge a você, leitor, dar uma nova chance a esta pérola, lamentavelmente já esquecida.
O caso de Carandiru (2003) é mais complicado. Voltando a abordar a miséria brasileira, sob influência direta de Cidade de Deus (2002) – filme que, por sua vez, retoma o naturalismo e a crueza de Pixote, e inaugura, tal como aquela obra, um novo caminho para a produção nacional –, o projeto é o mais explicitamente acessível de Babenco, um reencontro planejado com o público. Mesmo com grandes cenas e o nível de atuações característico de sua filmografia (Rodrigo Santoro e Aílton Graça são só as pontas mais visíveis de um elenco extraordinário), Carandiru padece dos mesmos males de suas superproduções nos EUA: trata-se de um conjunto irregular, tão preocupado em ser denso e abrangente que acaba desperdiçando o impacto dos seus melhores achados. Ainda assim, Babenco conseguiu o que queria: um sucesso de público, e um novo sopro de notoriedade e relevância para sua carreira pós-Embrafilme.
Afiando as velhas armas, o diretor mostrou vigor com o thriller O Passado (2010). Estrelado pelo grande ator mexicano Gael García Bernal, o filme mostra as consequências traumáticas de uma paixão obsessiva na vida do tradutor Rímini (Bernal). Apesar da bilheteria e repercussão modestas nos mercados brasileiro e internacional, o filme mostra a qualidade que Babenco ainda sabe extrair de um material à sua altura.