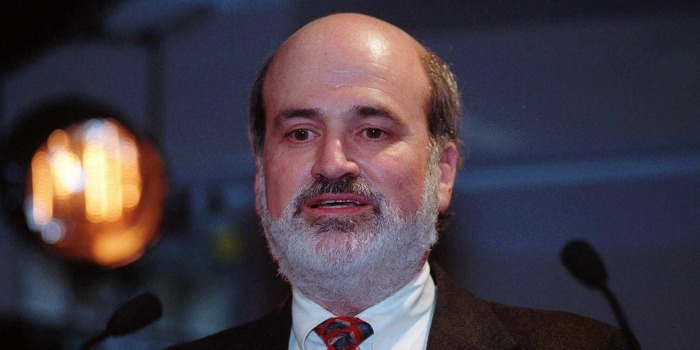O cinema tem certos nomes que se tornam tão ou mais poderosos do que os títulos de seus filmes. Pouca gente saberia dizer, na lata, quem fez A Lei do Desejo, A Má Educação ou De Salto Alto, mas há alguém que não conheça, ao menos de nome, Pedro Almodóvar? E filmes como Rebecca: A Mulher Inesquecível, O Homem Errado ou Pacto Sinistro? Que tal apenas Hitchcock? Trata-se daquele raro talento de criar um mundo próprio, reconhecível em qualquer filme do artista, e que é capaz de enriquecer o outro – o nosso, do lado de cá da tela – com “climas”, frases e até cores próprias. Há quem diga que tal situação é “hitchcockiana”, que tal festa procura um clima “lynchiano”, até uma canção que fala em “cores de Almodóvar”.
Um dos grandes cultores dessa “realidade paralela” dos filmes é o italiano Federico Fellini (1920-1993). Surgido no movimento neorrealista, a grande alquimia de poesia e contundência que nos daria gente como De Sica, Rossellini e Visconti, Fellini logo enveredaria por caminhos radicalmente diferentes, numa busca por temas, situações e até imagens estritamente pessoais – e, no processo, acabaria criando a obra mais bela e influente do cinema italiano, alimento essencial e constante de criadores tão díspares quanto Woody Allen, David Lynch, Emir Kusturica e Paolo Sorrentino. A provar que eu não estou de brincadeira quanto àquele lance de certos cineastas fazerem do seu mundo o nosso, sabe de onde vem a expressão paparazzi, que, você sabe, é como se chamam os fotógrafos que vivem de flagrar celebridades em situações íntimas? De um filme de Fellini – A Doce Vida (1960) –, no less.
Até se firmar como um criador com penetração no mundo pop, porém, Federico penou com decepções profissionais, falta de reconhecimento e até um bloqueio criativo – e, já como um mestre, com o declínio do tipo de cinema artístico, anticonvencional e olimpicamente pessoal que ele, ao lado de gente como Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni e Jean-Luc Godard, conjurou e tornou uma tendência tão marcante dos anos 1960 e 70.
Nascido em Rimini, pequena vila na costa norte da Itália, o diretor mostrou a – como se diz? – vocação para as artes já de saída. Em criança, Federico foi um desenhista compulsivo e leitor voraz das tirinhas americanas que o suplemento infantil da época (Il Corriere dei Piccoli) publicava todos os dias – e que se revelariam uma das influências decisivas de sua fase madura, vide a Gelsomina (Giulietta Masina) de A Estrada da Vida (1954), inspirada no personagem Happy Hooligan, ou os voos de fantasia de Marcello Mastroianni em Cidade das Mulheres (1980), com mais do que ecos das aventuras de Little Nemo. Não me consta, aliás, outro diretor de filmes “de arte” que tenha valorizado tanto o caráter “sério”, artístico, dos quadrinhos, o que se provaria também na colaboração com o conterrâneo Milo Manara, na década de 1980.
O cinema mudo foi outra revelação. De início apaixonado por épicos históricos, como Maciste no Inferno (1926), de Guido Brignone, Fellini abraçaria nomes como Charles Chaplin, Buster Keaton, Sergei Eisenstein, Luis Buñuel e Marcel Carné, todos criadores marcadamente pessoais, palavra que também definiria o cinema do Maestro. Crescendo sob a sombra do fascismo de Mussollini e das agitações pré-Segunda Guerra (as quais, de seu posto insular em Rimini, ele recordaria com sarcasmo em Amarcord [1974]), Fellini foi para Roma no final da década de 1930, onde logo se enturmaria os com jovens escritores, artistas plásticos e atores do pedaço, como o performer Aldo Fabrizi, grande estrela do teatro e cinema italianos da época, e a atriz de rádio Giulietta Masina – dois encontros, aliás, que dividiriam sua vida em antes e depois. De Fabrizi, Fellini ganharia seu ingresso definitivo no mundo artístico, escrevendo gags e contribuindo para os roteiros do astro, o que logo levaria a outros convites; já de Masina, Fellini ganhou não só uma intérprete definitiva para suas personagens femininas, como também uma esposa e parceira criativa para a vida inteira, no que seria um dos casais mais icônicos do cinema.
Pode parecer estranhíssimo hoje, à luz do que Fellini fez, mas durante toda a década de 1940, Federico só teve seus serviços requisitados como roteirista. O sucesso da parceria com Fabrizi o levaria a trabalhar com um diretor iniciante – ninguém menos que Roberto Rossellini – em dois clássicos inaugurais do neorrealismo italiano: Roma, Cidade Aberta (1945) e Paisà (1946). Embora tenha chegado a dirigir algumas cenas neste último, o sucesso avassalador do filme foi creditado a Rossellini, diretor, e, em proporção muito menor, a Fellini, roteirista. Com um cinema materialmente combalido após todos os estragos da guerra, não havia, também, equipamento de sobra na cidade para permitir a diletantes como Federico testar suas chances no ofício. As coisas só mudariam em 1947, quando Fellini, já vencedor do Oscar pelo roteiro de Roma, Cidade Aberta, conheceu o ótimo (e esquecido) diretor Alberto Lattuada. Pelos dois anos seguintes, o rapaz escreveria os filmes do cineasta, até que, em 1950, este lhe daria parceria num projeto – desta vez, como diretor: Mulheres e Luzes (1950).
Os fãs de Fellini costumam dividir sua filmografia em duas fases principais: a que vai de Mulheres e Luzes (1950) a A Doce Vida (1960), marcada pela sobriedade estética e o humanismo das tramas; e a que começa com 8½ (1963) e vai até A Voz da Lua (1990), o derradeiro trabalho do diretor – a chamada fase onírica, profundamente pessoal e idiossincrática, com suas tramas e cenários assumidamente artificiais, a câmera solta, em travellings constantes, e a busca de uma forma narrativa própria, sem restrições de começo, meio e fim. É uma enumeração correta, mas, em biografias e análises da obra do diretor pela internet, sinto que o peso atribuído à segunda é um tanto desproporcional, como se Fellini só fosse Fellini para valer a partir de 8½. Engano: a personalidade fortíssima do diretor está lá desde o começo, como se pode conferir nas inúmeras boas sacadas de Mulheres e Luzes e Abismo de um Sonho (1952); e, embora menos pessoal, a primeira fase do diretor talvez seja a mais importante: não só a qualidade dos filmes é altíssima e constante (o que não acontece na segunda fase), como todos os pontos culminantes da revolução de 8½ já se vêem antecipados aqui e ali; mais do que a reinvenção de Fellini, a sua obra mais famosa é a radicalização, a guinada ao extremo de todas as preocupações temáticas e estéticas de seus primeiros – e grandes – filmes.
Certo, Mulheres e Abismo podem não ser exatamente grandes, mas são deliciosos de se ver. Especialmente o segundo, que, sem Lattuada, já é Fellini em toda sua candura e contundência. Com sua trama sobre um casal interiorano que vai a Roma e acaba num imbróglio sexual quando a esposa, Wanda (Brunella Bovo) tem a chance de conhecer seu ídolo, Abismo é um encantador cartão de visitas (já equipado com a música de Nino Rota, irmão-gêmeo artístico do diretor), recentemente homenageado por Woody Allen em Para Roma com Amor (2012). Como prova máxima de que Fellini, à época, só era respeitado como roteirista, o filme foi massacrado no Festival de Veneza – numa das resenhas mais biliosas, um crítico afirmou que Fellini não levava o menor jeito para a direção. Bom, críticos não têm a obrigação de acertar sempre, certo? Não?
Repetindo o mote lá de cima, Fellini só começa a ser Fellini “para valer” com Os Boas-Vidas (1953). Seu primeiro grande trabalho – na opinião deste modesto articulista, seu maior trabalho – é um tour de force de trama, personagens e visuais tipicamente “fellinianos” (o mundo começa a nascer aí). Com uma estrutura episódica, que seria a sua marca registrada, o filme gira em torno de Moraldo (Franco Interlenghi) e seus amigos, os boas-vidas ou vitelloni do título original: rapazes já na marca dos trinta anos, ainda morando com os pais, sem ocupação definida (ou sem ocupação nenhuma), vivendo ao sabor do vento, causando nas festas, acalentando projetos e romances fúteis. Inaugurando outro procedimento típico para o diretor, o filme usa muito da própria biografia de Fellini, embora “turbinada” pela imaginação furiosa do artista. Desde a abertura, com a festa interrompida pela tempestade, passando por sequências como a do baile de carnaval (sucedida por uma das ressacas mais realistas do cinema) até a triste, mas vitoriosa partida de Moraldo, trata-se de uma das obras supremas do século passado – e não estou sozinho nessa opinião: clássicos da Nova Hollywood como Caminhos Perigosos (1973), de Martin Scorsese, e Loucuras de Verão (1974), de George Lucas, são novos takes sobre o mesmo material. E Stanley Kubrick, quando perguntado em 1963 pela revista americana Cinema sobre seus dez filmes favoritos, elegeu o clássico de Fellini como número 1.
Apesar da ótima acolhida a Os Boas-Vidas, o insucesso de seus dois primeiros projetos e a insegurança sobre o futuro como artista fizeram o diretor entrar em crise – sim, dez anos antes de 8½. Foi sob forte depressão que o diretor deu a partida a A Estrada da Vida (1954). Inaugurando a colaboração com Giulietta Masina, o filme traz a estrela italiana como Gelsomina, uma moça sonhadora e algo aérea que é vendida pela mãe a Zampanò (Anthony Quinn), homem rude e amargo, que vive de se apresentar como homem-músculo em feiras de rua e espetáculos de circo. Outra obra magnífica, o filme coloca, pela primeira vez, uma preocupação central nessa fatia da obra de Fellini: a falta de comunicação entre as pessoas. Da mesma forma que nos filmes de Michelangelo Antonioni, seu colega de geração mais celebrado, mas sob um prisma totalmente diverso – Fellini, afinal, é expansivo, gregário, amigo dos rufiões e prostitutas de Roma –, os filmes do diretor denunciam a insinceridade, os códigos artificiais e as demais imposturas que afastam as pessoas umas das outras. Melancólico, sombrio, mas capaz de enxergar esperança até no momento mais solitário – o desespero de Zampanò, afinal, é a sua transformação – A Estrada da Vida é mais cinema maiúsculo, vital, sublime.
Se A Trapaça (1955) não está no mesmo nível, é um daqueles casos de se perguntar quantos filmes estão no mesmo nível de Os Boas-Vidas e A Estrada, e, afinal, se não atingir aquele estágio pode ser considerado fracassar. Porque a obra é mais uma pérola do “primeiro” Fellini, narrando a triste busca por redenção de Augusto (Broderick Crawford, de A Grande Ilusão [1949]), um golpista de meia-idade afastado da família, vendo os amigos que não mudaram de vida morrendo ou ficando pelo caminho. A produção complicada (Crawford era alcoólatra – não preciso explicar mais) e a recepção fria de crítica e bilheteria (mesmo destino de A Estrada da Vida, por sinal) colocaram sua vocação para diretor, mais uma vez, em xeque.


A Doce Vida também marcou outras inovações importantes na obra do diretor. Foi o filme em que Fellini deixou de ser um nome ligado ao circuito “de arte” para virar um cineasta pop, criador de personagens, sequências e diálogos que até hoje habitam o imaginário popular, como o fotógrafo Paparazzo (Walter Santesso), originador daquela expressão infame; a cena de Anita e Marcello na Fontana, cuja magia fez do local um destino turístico obrigatório em Roma; ou, ainda, a canção “Patricia”, de Pérez Prado, que foi um fenômeno passageiro na virada dos anos 50, mas se imortalizou como a trilha sonora da “doce vida” após o filme. Woody Allen fez sua releitura pessoal do tema em Celebridades (1998); Bob Dylan citou o filme em seus discos Freewheelin’ (1963) e Another Side (1964); a lista de citações e homenagens é enorme. A câmera de Fellini, antes sóbria e clássica, ensaia aqui as imagens extravagantes e fantasmagóricas que serão sua marca até pelo menos Amarcord; e o tema da falta de comunicação encontra aqui sua expressão mais aguda, a tal ponto que o diretor afirmaria ter dado sua palavra final sobre o assunto; após A Doce Vida, sua obra irá buscar outras paisagens, principalmente interiores: os sonhos, delírios e memórias do artista. Por fim, o filme foi também um sucesso de público estrondoso, maior do que qualquer outro, antes ou depois, na carreira de Fellini, muito por causa do buxixo sobre a “imoralidade” da produção, que levou a Igreja Católica a boicotá-la. Um ciclo, afinal, estava se fechando – mas não poderia haver final mais glorioso.
Se tivesse parado em A Doce Vida, Fellini já poderia repousar tranquilo, com uma obra que o colocaria, fácil, entre os dez maiores diretores do cinema – ponto. Mas o artista, na verdade, estava mergulhado na pior crise de sua vida.
Depois de lutar para se fazer impor como homem do cinema, e vencer cada batalha – a de ser levado a sério como roteirista, a de ser levado a sério como diretor, a de superar o nicho claustrofóbico do cinema “de arte”, e, no meio de tudo isso, a de ter coisas novas e relevantes a dizer – Fellini parecia ter perdido o rumo. Com superpoderes em Cinecittà, após o estouro de A Doce Vida, o diretor tinha sets luxuosos, a melhor equipe técnica, e alguns dos maiores astros do novo cinema italiano – Marcello Mastroianni, Sandra Milo –, além de uma ideia: um protagonista com bloqueio criativo.
Embora esse mote já tivesse ocorrido a Fellini desde pelo menos 1960, pela primeira vez, ele não sabia o que fazer com ele. Durante os dois anos seguintes, Federico esboçou ideias e jogou fora, percorreu o país atrás de locações, e até marcou uma data para o começo das filmagens, na esperança de que a história que ele queria contar “voltasse”, de repente, como uma memória recuperada. Até que veio o tal dia da filmagem – e nada. Deprimido, envergonhado, o diretor já estava decidido a cancelar a produção, quando foi chamado por um dos técnicos para brindar ao começo dos trabalhos. Segundo Fellini, a resposta que ele tanto queria apareceu nesse instante: a história de seu filme seria a sua história, do seu próprio bloqueio, a busca desesperada da ideia que um dia lhe piscou à cabeça, e que ele agora já não conseguia mais lembrar. Fellini, afinal, tinha um filme.

É difícil tentar resumir 8½ em poucas palavras. Como o próprio título, que é apenas a somatória dos trabalhos do diretor até ali (o ½ seria o curta As Tentações de Dr. Antonio, da antologia Bocaccio ’70 [1962], que já apontava para a exuberância do novo longa), o enredo de 8½, a rigor, não existe. Trata-se, basicamente, de uma furiosa e exaustiva jornada interior pelas ideias, pensamentos e memórias de Guido Anselmi (Mastroianni), o diretor sem filme, acossado de todos os lados por cobranças, sejam profissionais ou afetivas, sejam íntimas, nascidas de dúvidas e arrependimentos. Longe da autocomiseração, porém, o percurso de Anselmi é sempre animado, entre o sarcasmo e a candura, como não poderia deixar de ser com Fellini. Mas esse mote aparentemente simples é a mola para uma das mais incríveis viagens visuais do cinema, uma verdadeira enciclopédia de imagens icônicas, sejam os delírios do próprio cineasta (o encontro com as mulheres da vida de Guido, por exemplo, ou a espetacular abertura no engarrafamento, que inspiraria o clipe de “Everybody Hurts”, do R.E.M.), sejam as referências apaixonadas ao cinema, perpassando o musical, as comédias mudas, até a ficção científica. Com sua meditação fascinante sobre os dilemas de todo artista, adaptada a uma forma única, especificamente cinematográfica, de narrá-la, não é à toa que 8½ seria o filme mais aplaudido e influente de Fellini: a cada geração, um novo cineasta parece determinado a refazê-lo (tentativas recentes foram o inclassificável – e irregular – Não Estou Lá [2007], de Todd Haynes, sobre o cantor Bob Dylan, e o péssimo musical Nine [2009], de Rob Marshall]). Alguns se saíram muito bem: François Truffaut (A Noite Americana [1973]), Bob Fosse (All That Jazz: O Show Deve Continuar [1979]) e principalmente – quem? – Woody Allen (no sensacional Memórias [1980]) são alguns dos filhos de Guido Anselmi. A Academia de Hollywood não deixaria por menos: segundo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro para o diretor.
8½ é, para muitos, o auge artístico de Fellini, o seu grande testamento como diretor de cinema. Mesmo preferindo, pessoalmente, Os Boas-Vidas, é inegável que o filme de 1963 é a obra mais pessoal do cineasta, a que inaugura o jeito de filmar e a experimentação narrativa que irão fermentar toda a sua carreira dali por diante. Mas, assim como abriu as portas para novos voos de criatividade, 8½ também representou a realização máxima das novas ferramentas do diretor – o auge e, ao mesmo tempo, o começo do declínio para a arte de Fellini.
Sua obra posterior é nunca menos do que fascinante – Ensaio de Orquestra (1979), na aparência uma comédia irônica ligeira, quase trivial, é, na verdade, um dos maiores hinos à música já criados pelo cinema –, mas o novo estilo hiperativo e autocentrado do diretor frequentemente escorrega a mão, tornando cansativos até seus ensaios mais inspirados (vá sem medo, porém, aos complicados Julieta dos Espíritos [1965] e Roma [1972], e ao nostálgico Ginger e Fred [1986 – a derradeira parceria com Mastroianni e Masina], três grandes poemas em película). Como o crítico brasileiro Antonio Moniz Vianna se queixaria, Fellini passaria a perseguir uma imagem “sua”, única, diferente da de qualquer outro diretor – mesmo que à custa da qualidade das tramas e até das ideias em seus filmes, como nos francamente umbiguistas Cidade das Mulheres e A Voz da Lua, casos em que até os admiradores mais ardorosos de seus clássicos das décadas de 1950 e 60 não tiveram muito o que elogiar.
Mas há uma obra da fase tardia de Fellini que redime todas as outras, um ponto culminante mesmo em meio às alturas já imponentes de sua produção: Amarcord (1974). A jornada de Fellini pela infância em Rimini transforma o frenesi de Guido Anselmi numa busca pelo intangível – a recriação das sensações experimentadas no início da vida: a visão mágica de um transatlântico no mar; o medo ao se caminhar sozinho na neblina; o prazer e o pânico, lado a lado na primeira experiência sexual; e o encanto do sentimento filial, a alegria com todas as pequenas coisas reconhecíveis: as estações, os moradores célebres da cidadezinha, o jeito pitoresco dos parentes. Tudo isso sob uma sombra de indizível melancolia, como um vislumbre rápido de um passado que está prestes a se perder de novo, e para sempre. Além de outras sombras, menores na aparência, mas que convulsionam a vida no lugarejo: o fascismo, a guerra, o peso opressivo das tradições religiosas. Tudo isso encarnado nos diversos episódios vividos pelo jovem Titta (Bruno Zanin), seus amigos, vizinhos e outras figuras notáveis da paisagem.
Com Amarcord, Fellini reencontra, pela última vez com a mesma intensidade, a mina de sua imaginação, seus primeiros fascínios, prazeres e palpitações. Como em outros momentos sublimes de seu cinema – e são tantos que mesmo este texto longo não chegou sequer a arranhá-los –, somos levados a sonhar com o Maestro, e, no percurso, nos tornamos mais humanos, mais ternos, mais fascinados pelas miudezas do dia-a-dia, como o homem-músculo da praça, a prostituta da esquina, os filhinhos-da-mamãe no baile, até nosso próprio, mesmo frustrado e incompleto, íntimo. Coisas do mundo felliniano, que redimem este aqui.
P.S.: Se parece que eu esqueci de render as devidas homenagens a Nino Rota, o compositor que foi a encarnação musical de Fellini, ledo engano: breve, aqui no Cine SET, uma homenagem especial aos 105 anos do artista que criou os temas magníficos de A Estrada da Vida, Noites de Cabíria e 8½ – e também de filmes tão notáveis quanto O Leopardo (1963) de Luchino Visconti, e O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola.
*Texto original alterado para substituir a equivocada expressão humor negro.