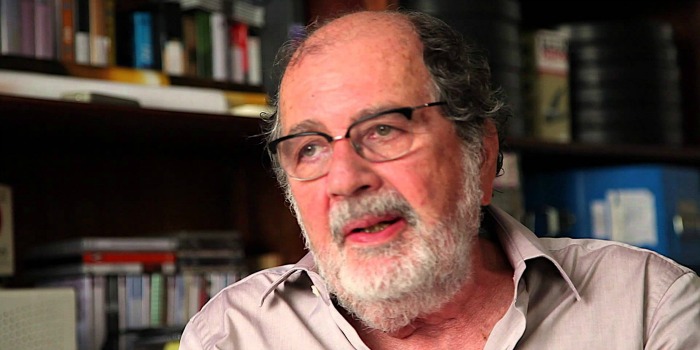Em sua excelente apresentação do cinema americano clássico, Uma Viagem Pessoal pelo Cinema Americano (1995), Martin Scorsese divide os pioneiros da Sétima Arte em três categorias de importância e influência: ilusionistas, contrabandistas e iconoclastas. Os primeiros são os criadores, de fato, da linguagem cinematográfica, aqueles que ensinaram as maneiras de se narrar uma história por meio de imagens e sons. Já os segundos respondem por nichos mais específicos, mestres de gêneros como o noir, o musical ou o western. Por fim, os iconoclastas, como o próprio nome diz, são os rebeldes, os artistas que fizeram o cinema avançar através do questionamento e da desconstrução de fórmulas.
A classificação de Scorsese é a que chega mais perto de definir o tamanho da contribuição de Marcel Carné (1906-1996) para o cinema. Sem exagero, ele é o ilusionista por excelência, o patriarca do cinema francês. Ao lado de Jean Renoir e René Clair, Carné esteve na linha de frente do amadurecimento da linguagem cinematográfica em seu país, e o movimento que ele capitaneou – o realismo poético – foi uma das primeiras manifestações de um cinema genuinamente francês, superando a mera imitação de Hollywood. Um injusto declínio após a Segunda Guerra Mundial, porém, relegou Marcel às enciclopédias de cinema, enquanto seus companheiros de geração foram redescobertos e seguem reverenciados por novíssimas levas de fãs. Esse texto tenta reparar essa injustiça.
O início: aprendizado com outros gigantes (1906-1936)
Marcel Carné nasceu em 1906 em Paris, numa família de pequenas posses. O pai era um modesto fabricante de móveis artesanais, enquanto a mãe de Carné, uma dona de casa, morreu quando o menino tinha apenas cinco anos. A perda fez de Marcel um aprendiz obsessivo em disciplinas culturais, mas também um jovem impetuoso, confrontador – numa época e meio em que isso era visto como um desvio imperdoável, Marcel era abertamente gay sem levar desaforos. Em um período, também, em que as teorias do cinema mal principiavam, Carné já atacava de crítico em semanários parisienses, enquanto buscava oportunidades em estúdios.
Ele começou como cinegrafista assistente para o grande diretor Jacques Feyder (A Última Cartada) em fins da década de 1920. Precoce, aos 25 anos ele dirigiu o primeiro filme, Nogent, Eldorado du Dimanche (1929), enquanto ainda militava no jornal e como aprendiz de outras feras, como René Clair. Exercitando-se tanto na parte mecânica, de operação de câmera, iluminação e montagem, quanto na criativa, escrevendo os próprios roteiros e refinando a direção de atores, Carné voltaria transformado no trabalho seguinte, Jenny (1936). O apuro estético que marcaria a sua fase madura dá aqui as primeiras mostras, com os belos sets construídos pelo diretor de arte Jean d’Eaubonne. Jenny, embora ainda não seja um grande filme, também é notável por marcar o início da parceira entre o diretor e o poeta Jacques Prévert. Um dos expoentes do surrealismo, Prévert teve influência decisiva sobre a produção de Carné, embora longe do estilo o fizera famoso – suas colaborações com o diretor são classicamente elaboradas, com alguns dos diálogos mais belos e inteligentes em todo o film français.
Talvez o cinema mais avançado da Europa no entreguerra, o francês viveu uma fase prolífica na década de 1930. Refletindo as experiências amargas e as crescentes angústias do período, diretores como o já citado Feyder e o meteórico Jean Vigo (O Atalante) lançaram na praça o realismo poético, uma versão mais estilizada e sombria dos melodramas da época, que teria grande influência no nascente noir e em futuros movimentos contestadores, como o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague. Carné fez um filme de transição (Família Exótica, em 1937) e aderiu full-time ao novo estilo, com o fabuloso Cais de Sombras, de 1938.
Ambientado na parte mais inóspita de Le Havre, cidade portuária ao norte do país, Cais congrega uma fauna de tipos sórdidos, numa história de amor infeliz entre o ex-soldado Jean (Jean Gabin) e a frágil e matratada órfã Nelly (Michèle Morgan). Repleto de ousadias para o cinema da época – Jean e Nelly dormem juntos, algo impensável na Hollywood sob o Código Hays; o mocinho não acaba bem –, a obra é a primeira verdadeiramente grande de Carné, e um dos triunfos da época máxima do cinema francês (lembrando que, em 1937, Jean Renoir também criaria outro monumento da cinefilia, A Grande Ilusão).
Resistência: grandes filmes – e a luta para realizá-los em plena guerra (1939-1945)
Com seus sets meticulosos, iluminação sombria e execução capaz de elevar o melodrama à altura da grande tragédia, Cais de Sombras confirmou o enorme talento de Marcel Carné para fazer filmes. Foi também o início da fase mais feliz e produtiva do cineasta – ainda que cada filme tenha sido uma batalha à parte, na barafunda que era a França sob a ocupação alemã.
Os problemas começaram em Trágico Amanhecer (1939). Um drama magnífico, ainda mais comovente e ressonante que Cais de Sombras, a obra traz a história do modesto François (Jean Gabin, em mais uma alentada parceria), que se vê perseguido pela polícia após o desfecho trágico de um triângulo amoroso. Rodado a duras penas, entre a pobreza geral produzida pela guerra, o estado de sítio e a burocracia estatal, o filme, depois de lançado, foi considerado desmoralizante pelo governo de Vichy, e consequentemente banido das telas francesas. A RKO americana, querendo refilmar a obra, contribuiu para o ocaso de Amanhecer, ao tentar destruir todas as cópias que sobraram. Sobrevivendo, porém, à estupidez da guerra e de Hollywood, o filme foi triunfalmente relançado na década de 1950, e hoje é considerado uma das maiores realizações de Carné, em particular, e do cinema, ponto.
Os Visitantes da Noite (1942) é outro petardo. Em partes farsesco, em outras profundamente dramático, o filme transcende as origens de Carné no realismo poético para dar vida a uma fantasia vibrante, envolvente, mágica. Dois sedutores enviados pelo próprio Diabo, Gilles (Alain Cuny) e Dominique (Arletty), provocam um tumulto de consequências fatais no casamento dos nobres Anne (Marie Déa) e Renaud (Marcel Herrand). Outra produção complicada, aflitiva, o filme foi um sucesso estrondoso, em parte pela interpretação, muito difundida, de que ele seria uma alegoria da França sob o jugo alemão – o Diabo de Jules Berry era o próprio Hitler! Intencional ou não (Carné sempre negou qualquer interesse em política), a alusão fez Visitantes decolar. Parecia o ponto mais alto numa sequência fenomenal, onde Marcel parecia carregar, sozinho, o legado e a reputação do cinema francês.
Mas não. Seu filme seguinte, O Boulevard do Crime (1945), é que seria a obra máxima do diretor, e – para boa parte da crítica – a maior realização do cinema francês. Uma produção insensatamente grandiosa e cara – e isso numa época em que comida, figurino, equipamento e até figurantes eram racionados, face às dificuldades e a devastação provocadas pelo conflito ao longo dos anos –, Boulevard adota uma elaborada estrutura narrativa para retratar os complicados relacionamentos da cortesã Garance (Arletty, em seu maior papel) ao longo da efervescência da chamada Monarquia de Julho (entre as décadas de 20 e 30 do século XIX).
A filmagem de pesadelo – colaboradores judeus tinham de trabalhar sob disfarce, cenários eram arrasados pela chuva, a companhia produtora faliu, até um dos atores (Robert Le Vigan) foi condenado à morte, por colaborar com os nazistas – de alguma forma coadunou num filme intenso, poderoso, vital como nunca mais Carné – ou uma parcela ínfima de gênios da tela grande – iria reproduzir. Tocante, ágil, envolvente, fascinante… os adjetivos faltam ao tour de force de imagens e situações transcendentais que é O Boulevard do Crime. François Truffaut, o enfant terrible da Nouvelle Vague e outro artista vital do cinema, disse que desistiria de todos os seus filmes, de bom-grado, pela oportunidade de dirigir Boulevard. Este escriba fecha com o prodígio francês e não abre.
Missão cumprida: a perda da popularidade no pós-guerra (1946-1976)
Tendo alcançado um patamar tão alto – dir-se-ia insuperável – nos anos mais sombrios da Segunda Guerra, a carreira de Marcel Carné, no período que se seguiu, foi um indesejado anticlímax.
Mesmo as suas melhores realizações – As Portas da Noite (1946), derradeira parceria com o roteirista de suas maiores obras, Prévert, ainda trazendo os cenários e a ambientação peculiares de seus filmes da guerra; Os Trapaceiros (1958), uma narrativa ágil e convulsa, que precede a explosão da Nouvelle Vague – parecem ter perdido a transparência, o apelo imediato e vital de seus trabalhos mais famosos. O problema é que até seus grandes filmes, que tanto fizeram pelo cinema francês durante a longa noite do conflito, parecem ter se tornado relíquias de um talento menos duradouro, diminuído, de um lado, pelo agigantamento de Renoir – este sim o grande diretor francês dos anos 30, julgamento injusto e equivocado para com Marcel, apesar do talento e importância indiscutíveis de monsieur Jean –, e, de outro, pela furiosa renovação do cinema do país, a partir de 1950, quando Malle, Godard, Truffaut, Resnais, Vadim – a Nouvelle Vague, em suma – relegou à pré-história o cinema classicamente realizado de Carné e seus colegas de geração.
Há, ainda, um problema adicional, se você é brasileiro – os filmes de Marcel Carné, mesmo os clássicos, quase não existem em edições nacionais. À parte o (relativamente) mais fácil de encontrar O Boulevard do Crime, que saiu numa bela reedição da Versátil, as obras-primas de Carné – uma parte considerável da melhor estirpe do cinema ilusionista, desbravador de caminhos – só saem, quando muito, em edições limitadíssimas, e a preço de importados. É, portanto, através deles ou da internet que você deveria conhecer o quanto antes este legítimo poeta das imagens, capaz de produzir o espanto ou a ternura com intensidade e elegância sem pares – atemporal, intoxicante, como o melhor da arte francesa.