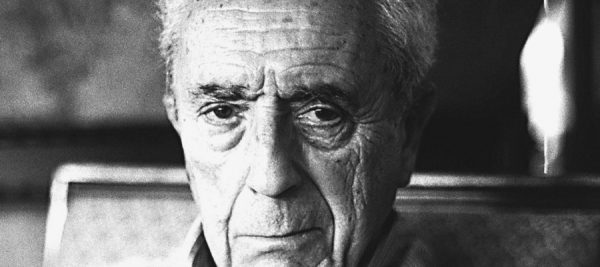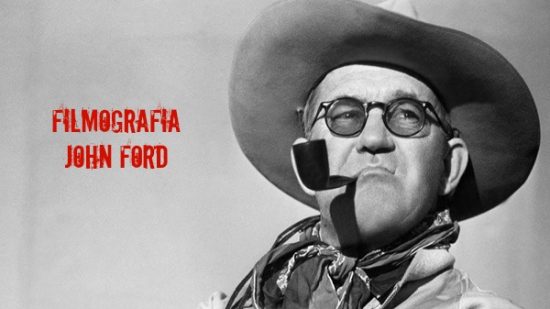É triste notar como o cinema perdeu relevância no debate cultural. Enquanto a mais humilde cópia de Jogos Vorazes ou Harry Potter dispõe de efeitos e orçamento capazes de humilhar os épicos de Cecil B. DeMille nos anos 1950, os filmes, como um todo, deixaram de ser um fórum de debates e questionamentos, uma caixa de ressonância para os anseios de cada época.
Digo isso sem nostalgia, porque não faltam obras interessantes e desafiadoras no circuito de filmes mais adultos, muitos deles espelhando mudanças significativas na sociedade – Azul é a Cor Mais Quente, Ela, A Rede Social –, mas porque o cinema, em décadas anteriores, sobretudo os anos 1950 e 60, expressou como nenhuma outra arte o pensamento e as angústias das civilizações a oeste do mapa.
Uma figura central nesse projeto de cinema como investigação da alma foi Michelangelo Antonioni (1912-2007), que em 29 de setembro último teria completado 102 anos. Dono de uma das obras mais sublimes e cultuadas do cinema italiano do novecento, Antonioni revolucionou a estética cinematográfica com novas formas e conteúdos, ampliando o leque de expressão dessa arte, e deixando, no caminho, poderosas meditações sobre os relacionamentos humanos, com uma agudeza e sensibilidade raras vezes igualadas então – ou depois.
O começo: neorrealismo “pervertido”
Mas o diretor que seria conhecido pelos planos longos, inquisitivos, a temática da solidão e incomunicabilidade humanas, e o universo povoado por personagens materialistas, com suas vidas fúteis, vazias, começou fazendo quase o oposto disso.
Nascido em Ferrara, na região de Emilia-Romagna, ao norte da Itália, um bolsão de prosperidade num país devastado pelas guerras de unificação, Antonioni teve uma educação burguesa e uma juventude de privilégios. Ele recorda o fascínio pela classe trabalhadora, em especial o jeito assertivo das mulheres proletárias, que serviam como empregadas às famílias da região. Antes de se dedicar ao cinema, porém, Antonioni teve uma breve carreira na música, a ponto de se apresentar como violinista de concerto em teatros do país. O futuro diretor também mostrou interesse por desenho e arquitetura, e estudou as teorias de Karl Marx na universidade, antes da ascensão do fascismo.
Sua aproximação com o cinema se deu nos anos 1930. Atuando a princípio como crítico em jornais de Ferrara, Michelangelo foi para Roma escrever em Cinema, revista editada pelo Partido Fascista, de Benito Mussolini. A experiência durou alguns meses. A agitação política e o clima de paranoia instalado na Itália, com a chegada da 2º Guerra Mundial, obrigaram Antonioni a rebolar para continuar vivo. Quando o diretor, contudo, foi marcado para morrer por ter colaborado com a Resistência, seus contatos na cúpula fascista em Ferrara foram fundamentais para mantê-lo a salvo. Não, Antonioni não foi um herói de guerra, mas a apreciação de seus filmes, dramas profundamente humanos, apolíticos, não perde em nada por causa disso.
– –
Durante o período, o diretor aproveitou para estreitar os laços com colegas mais famosos, dividindo a autoria de um roteiro com Roberto Rossellini e auxiliando o diretor francês Marcel Carné nas filmagens do magnífico Os Visitantes da Noite (1942). Seus primeiros filmes autorais foram a série de curtas Gente del Po (1945), sobre os moradores do vale homônimo, uma região da Itália assolada pela miséria. Os trabalhos seguiam a estética neorrealista então em alta, onde diretores afins do comunismo buscavam retratar o dia-a-dia da classe trabalhadora.
Antonioni, apesar do fascínio pelas mulheres fortes de Ferrara, estava para essa turma como, digamos, Francis Ford Coppola para os musicais da MGM. Sua visão de mundo, que também era pautada pela luta de classes marxista, estava muito mais voltada para os dilemas dos ricos, cuja fartura material contrastava com a má consciência diante da miséria e a vacuidade das relações amorosas. Uma espécie de neorrealismo “pervertido”, por assim dizer, retratando o cotidiano dos privilegiados. Ele começou a explorar essa temática já no primeiro longa, Crimes da Alma (1950). Esse, assim como os seguintes, I Vinti (1952), La Signora senza Camelie (1953) – nunca lançados no Brasil – e As Amigas (1955), são dramas francamente convencionais, apesar do talento do diretor para a composição dos planos. O último, em particular, foi um sucesso de público, e começou a chamar a atenção da crítica europeia para o diretor. Mas Antonioni só seria Antonioni com A maiúsculo a partir do filme seguinte.
O auge: a “trilogia da incomunicabilidade”
Antes de As Amigas, Antonioni poderia ser considerado um ótimo cineasta, mas não melhor do que colegas como Vittorio de Sica (Ladrões de Bicicleta), Rossellini (Roma, Cidade Aberta) ou Federico Fellini (já então o astro da turma, com filmes como Os Boas Vidas, A Estrada e Noites de Cabíria). Com o filme de 1955, contudo, o diretor começou a pôr em prática um novo tipo de cinema, muito mais baseado em contemplação do que em drama, sensações do que atos, silêncios do que palavras. A obra seguinte, O Grito (1957), inaugurou formalmente essa estética com uma trama ousada, em que um homem (Steve Cochran) vaga sem rumo pelo vale do Po (o mesmo dos curtas iniciais do diretor) após ser abandonado pela amante.
Apesar da novidade, o filme é um híbrido ainda “verde” entre o drama da primeira fase do diretor e o estilo compassado, melancólico, dos filmes seguintes. Caracteristicamente, a obra marca a despedida das incursões ao Po, para se concentrar na rica fauna cosmopolita dos centros urbanos.
– –

Ousado até para os padrões atuais, A Aventura abandona qualquer resquício neorrealista para ir fundo na psique torturada e cínica do jet-set no pós-guerra. Uma trama de poucos acontecimentos e planos longos e silenciosos, taciturna e sombria, ela analisa o envolvimento entre Claudia (Vitti) e Sandro (Gabriele Ferzetti), movido muito por mais por tédio do que por amor, enquanto eles procuram o paradeiro de Anna (Lea Massari), uma herdeira rica, namorada de Sandro, que some após um mergulho de iate na paradisíaca costa da Sicília.
A nova forma inventada por Antonioni para dar conta de suas angústias inéditas foi motivo de espanto e admiração entre os colegas cineastas. O diretor parecia ter inventado uma caligrafia para expressar o vazio espiritual da nova geração, perdida entre o consumismo e a opulência, descrente dos valores convencionais, mas incapaz de articular uma saída para o tédio e a solidão.
O filme inaugura uma fase conhecida informalmente como “trilogia da incomunicabilidade”, em que Antonioni capta a fundo o lado trágico do zeitgeist, ao mesmo tempo em que deplora os valores morais gastos e o materialismo em ascensão no Ocidente. Seus filmes seguintes – A Noite (1961), o melhor dos três, com seus maravilhosos planos geométricos, irreais, e o estupendo casal formado por Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni, e O Eclipse (1962), com o astro francês Alain Delon e seu final ousado e desiludido – seguem a mesma toada, e formam um conjunto tão icônico e poderoso na história do cinema quando os filmes de Coppola nos anos 70, Woody Allen nos 80 e Almodóvar na década passada.
A trilogia trouxe reconhecimento mundial ao diretor, mas também criou um impasse: com filmes tão consistentes em temática e apresentação, para onde ir em seguida? Qual seria a inovação do diretor para continuar relevante após três filmes que marcaram época?
A resposta veio um pouco à maneira de O Grito: O Deserto Vermelho (1964) é um filme de transição, ainda muito ligado ao retrato dos valores morais corrompidos dos mais ricos, mas acrescenta ao ascetismo visual do diretor uma exuberante paleta de cores, reminiscente em mais de um sentido da pintura expressionista, em especial Edvard Munch (1863-1944), manifesta nos tons carregados e na ambientação industrial do filme. Trazendo, mais uma vez, Monica Vitti, a obra mostra a tumultuada jornada psicológica de Giuliana (Vitti), refém das próprias neuroses enquanto acompanha o marido, Ugo (Carlo Chionetti) e um desconhecido, Corrado (Richard Harris) por instalações industriais e portos. O filme teve uma recepção mais dividida, mas seu visual fascinante e o apelo cosmopolita construído nos últimos três filmes abriram as portas do mercado internacional ao diretor – bem como o caminho para a fase final de sua carreira.
O reconhecimento internacional: nova trilogia, Palma de Ouro, o silêncio
Tendo percorrido uma das jornadas mais fascinantes do cinema moderno, de idealista engajado a cronista da decadência contemporânea, a última barreira foi enfim superada pelo diretor: o sucesso internacional.
Blow-Up – Depois Daquele Beijo (1966) leva o aristocrático e desiludido Antonioni ao mais improvável dos cenários: à “swinging London”, o período efervescente em que a música jovem e a exploração de comportamentos “alternativos”, incluindo o sexo livre e o uso de drogas, estimulou a formação de toda uma rica e peculiar cena na capital inglesa. De forma ainda mais inusitada, o diretor adapta um conto do argentino Julio Cortázar na trama, que mostra o fotógrafo Thomas (David Hemmings) e sua rotina de caprichos fúteis e tediosos, até que este se depara com o possível flagrante de um assassinato, registrado quando fotografava uma mulher num parque.
O filme repete a atmosfera magistral de A Noite, trocando as retas e diagonais daquele filme pelas cores vibrantes e o clima onírico, opiáceo, dos ambientes frequentados por Thomas. Com participações de luxo de gente como a modelo Verushka, a cantora Jane Birkin (mãe da atriz Charlottte Gainsbourg, de Ninfomaníaca) e a banda The Yardbirds, que faz uma apresentação furiosa da rara formação com os magos Jeff Beck e Jimmy Page nas guitarras, o filme é um documento obrigatório sobre o período, mas é muito mais: uma análise densa e profundamente melancólica de temas como a solidão, a memória e a busca pela verdade. Mais um triunfo antoniano (invenção minha), e um grande sucesso de público, ajudado sem dúvida pelas cenas de nudez e sexo – quase pudicas para os padrões atuais, mas revolucionárias no período, Blow-Up renderia ainda a Palma de Ouro em Cannes, marca triunfal que jamais seria alcançada pelo cineasta novamente.
Mais uma vez, o filme marca o início de um ciclo para Antonioni. Aqui, porém, longe da coesão temática da “trilogia da incomunicabilidade”, temos três filmes muito diferentes entre si, ligados apenas pelas locações internacionais e pelo uso da língua inglesa.
O trabalho seguinte do diretor, Zabriskie Point (1970), teve uma gestação longa e custosa, e pode ser considerado, fácil, o maior equívoco da fase áurea de Antonioni. A história confusa, que desperdiça o fascínio diante da cultura jovem visto em Blow-Up, restando apenas a crítica superficial à contracultura, já é fraca o bastante. Some o casal apático vivido por Mark Frechette e Daria Halprin, ambos usando seus próprios nomes no filme, e temos a certeza de que, pela primeira vez em uma década, o rigor visual do diretor não serve a nada mais do que uma construção artificial e fetichista diante da história mal escrita. Não sem razão, o filme afundou nas bilheterias, e causou enormes prejuízos a todos os envolvidos.
O diretor se recuperaria junto à crítica, mas não ao público, com O Passageiro – Profissão: Repórter (1975), seu filme seguinte. Trazendo os glamourosos Jack Nicholson e Maria Schneider, a obra utiliza um trabalho fascinante de câmera para acompanhar a farsa perpetrada por David Locke (Nicholson), um jornalista em trabalho pela África que se apropria da identidade de um colega morto (Charles Mulvehill) e se vê metido numa transação perigosa com um grupo paramilitar. Dito assim, parece uma história de suspense, mas o verdadeiro interesse de Antonioni está em outro lugar: como em Blow-Up, o filme questiona a representação da verdade, bem como o tédio inevitável em um mundo de valores já gastos e antiquados. O plano final da obra, um desafiador e esplêndido plano-sequência, que sai de um quarto, adentra uma praça e então retorna ao quarto, é talvez a realização máxima do esteta Michelangelo.
– –
Infelizmente, o fracasso na bilheteria condenou o diretor a um longo ostracismo. Para efeitos práticos, Profissão: Repórter é seu último filme relevante. Já velho e sem muito o que dizer, o diretor chegou ainda a realizar outros três longas, Il Mistero di Oberwald (1981, tem edição portuguesa), onde reatou a parceria com Monica Vitti e foi ainda mais fundo nas experiências com cor e tecnologia de vídeo, o auto-referente Identificazione di una donna (1982, idem) e o modesto Além das Nuvens (1995), dirigido em parceria com Wim Wenders.
Em 1985, o supremo poeta da incomunicabilidade sofreria um infarto e – cruel ironia – ficaria impossibilitado de falar. Para alguém que, durante tanto tempo, encheu o cinema de afirmações originais e belas sobre os descaminhos humanos, foi mesmo a perda de uma voz, com o perdão do adjetivo, tão corroído pelo uso, única. Num golpe ainda mais triste, sua morte ocorreu no mesmo dia que a de outro gigante do cinema, o diretor sueco Ingmar Bergman (1918-2007), e parte da imprensa o colocou em segundo plano nos elogios às respectivas obras. Não cometa o mesmo erro: com sua obra comparativamente minúscula em tamanho, Michelangelo Antonioni ocupa o mesmo e seleto panteão dos verdadeiros artistas que dão o nome à Sétima Arte.
P.S.: deixo com vocês um trecho do último filme em que Antonioni participou, a antologia Eros, com o segmento Il Filo Pericoloso delle Cose, que usa, como trilha sonora, a canção “Michelangelo Antonioni”, do nosso Caetano Veloso. Trabalho modesto, mas que vale a conferida, de um dos nomes fundamentais do cinema.