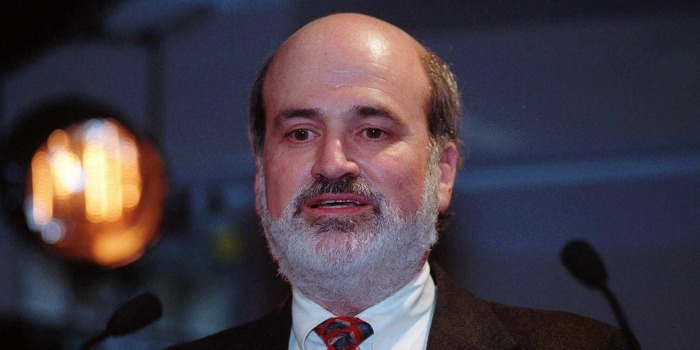Bergman, Lumet, Rossellini, Hitchcock, Renoir. Apenas o mencionar de um desses sobrenomes em uma conversa já é capaz de levantar as sobrancelhas de qualquer cinéfilo. E não é exagero nenhum dizer que qualquer ator de certo renome que tenha em sua filmografia algum título de um desses medalhões já poderia se aposentar com honras.
Quando alguém tem a chance de riscar esses cinco nomes de sua lista e, mais que isso, constrói uma carreira longa, com incursões no teatro, além do cinema, e um papel naquele que é “o filme da vida” de milhões de pessoas… Bem, é pleonasmo dizer que esse alguém é uma lenda, mas não há palavra melhor para definir a atriz que divide o sobrenome e a nacionalidade (sem parentescos) com aquele que abre este texto: Ingrid Bergman.
Ingrid Adler Bergman nasceu no verão europeu, em agosto de 1915 na cidade sueca de Estocolmo. Quando tinha apenas dois anos, perdeu a mãe, e teve no pai a principal figura de afeto e conexão com o mundo.
Não que isso tenha durado muito. Assim que chegou à adolescência, a Ingrid de 13 anos teve que lidar com a morte do pai. Os poucos anos que tiveram juntos foram fundamentais para que Justus Bergman passasse à filha sua paixão pelas imagens, paradas ou em movimento.
O amor por registrar momentos em família virou um hábito e, por conta disso, é possível encontrar vídeos pessoais de Ingrid em quase todas as suas fases da vida – essa riqueza de imagens rendeu um belo documentário lançado em 2015, quando a atriz completaria cem anos, “Eu Sou Ingrid Bergman”.
Na escola, a jovem já mostrava interesse pelas artes dramáticas, o que pesou em sua ida para a prestigiosa Royal Theater Dramatic School, instituição que também viu os primeiros passos de outra grande estrela da Suécia, Greta Garbo. Entre algumas peças, Ingrid fez sua primeira aparição em um filme. É uma imagem rápida, uma figurante entre tantos outros na produção sueca “Landskamp” (1932), mas, para a atriz, foi o primeiro passo de uma carreira que duraria cinco décadas.
Ainda assim, o start na carreira cinematográfica não foi imediato. Antes, veio a decisão de sair da escola de artes dramáticas, já que o foco de Ingrid não estava nos palcos, e sim nas telas. Em 1935, “O Conde de Munkbro” foi o início “dos vera” da carreira da jovem no cinema. Os anos que seguiram foram frutíferos para a atriz, que se consolidava no cinema sueco a cada performance. O magnetismo já visível nas atuações não deixavam dúvida de que ela seguiria os passos de Garbo e atravessaria o oceano.
Ingrid apareceu pela primeira vez sob as luzes do cinema americano em 1939, ano-standard de Hollywood. Em meio a títulos como “…E O Vento Levou”, “O Mágico de Oz”, “Nos Tempos das Diligências” e “As Mulheres” (para citar apenas alguns), “Intermezzo – Uma História de Amor” é pálido e até esquecível, não fosse a aparição mágica de Bergman, repetindo o papel que havia interpretado no filme sueco de 1936, um dos primeiros de sua carreira.
A sueca chegou a Hollywood após o chamado de ninguém mais, ninguém menos que David O. Selznick, o produtor todo-poderoso que, àquela época, estava às voltas com a escalação de Scarlett O’Hara, do já citado “…E O Vento Levou”. Não, Bergman não usaria os vestidos de cortina da personagem, à época disputada por centenas de atrizes. Ingrid colocou os pés nos Estados Unidos para fazer o remake de “Intermezzo”, e tudo após uma situação curiosa: Selznick resolveu investir na atriz depois de ouvir, em uma conversa corriqueira de elevador, um casal de suecos elogiando a atuação de Bergman. Com uma pulga atrás da orelha e sempre em busca de novas estrelas para moldar, o produtor resolveu prestar atenção no burburinho vindo da Escandinávia.
A exemplo de vários filmes produzidos naquela época, “Intermezzo – Uma História de Amor” não envelheceu bem. Datado, o filme tem um tom machista ao abordar a história do pobre homem apaixonado e que precisa abandonar a família. Como o novo amor do protagonista, Ingrid está encantadora e não mostra problemas com a nova língua. Uma usuária do Letterboxd resumiu bem quando disse que “se visse Ingrid Bergman tocando piano, também se apaixonaria”. De fato, ali nasceu uma estrela. E, com isso, Ingrid se mudou de mala, cuia, marido e filha para os Estados Unidos.
Com status de protagonista desde o início, Bergman não deixou de mostrar pulso filme. Quando soube da possibilidade de participar de “O Médico e O Monstro”, dirigido por Victor Fleming, ela resolveu inverter o status quo e pediu para trocar de papeis com Lana Turner, atriz mais conhecida por ser a femme fatale. Lana, então, foi a mocinha e Bergman viveu Ivy, cuja personalidade era bem diferente das que a atriz vinha levando à tela, até então. A mudança não foi tão bem sucedida e, além do fracasso do filme – uma derrota para Fleming, logo após o tiro duplo de “…E O Vento Levou” e “O Mágico de Oz” -, o resultado também não agradou Bergman, que havia sido emprestada para a MGM para fazer “O Médico…”.
Ingrid não precisou se preocupar com o fracasso do filme de Fleming. Os quatro filmes que fez em seguida tiveram impacto incontestável em sua carreira. O primeiro deles, inclusive, virou um clássico que figura até hoje no topo das listas dos grandes de todos os tempos.
Claro, “Casablanca”. Para falar dos motivos que fazem deste a junção de romance, roteiro e atuações impecáveis, eu precisaria escrever um texto especial, e isso não falta pela internet. A importância dele para a carreira de Ingrid, no entanto, é visível: Ilsa é a personagem mais icônica da atriz e metade de um casal que faz cinéfilos suspirarem há sete décadas (!). A atriz não subestima o papel e lhe dá substância para além da mocinha sofredora. Cheia de camadas, Ilsa Lund – e seu olhar desolado ao fim da película – é tão inesquecível quanto os acordes de “As Time Goes By”.
Para completar, ela seguiu o filme de Michael Curtiz com um poderoso trabalho em “Por Quem Os Sinos Dobram”. Mais que aprovada pelo escritor Ernest Hemingway para viver a Maria de “Sinos” (reza a lenda que a personagem foi escrita com ela em mente), Bergman é uma fortaleza e foge da aura de estrela enquanto vive mais um romance icônico das telonas. Pelo papel, ela foi indicada ao Oscar (perdeu para Jennifer Jones em ‘A Canção de Bernardette’) e viu a colega de elenco Katina Paxinou ser premiada pelo desempenho irrepreensível no drama dirigido por Sam Wood.
A estatueta não demoraria a vir. Seria no ano seguinte, com “À Meia Luz”, filme de George Cukor em que Ingrid tem a chance de viver uma mulher que acredita estar ficando louca. O drama ganhou vários textos recentes porque seu título original, “Gaslight”, deu origem ao termo “gaslighting”, que é justamente quando uma pessoa é tão abusada psicologicamente que pensa estar vivendo fora da própria realidade. A palavra foi vista pela primeira vez na peça que inspirou o filme, mas a película com Ingrid Bergman é sempre lembrada quando se fala nesse tipo de abuso.
A atriz voltou a examinar os limites entre loucura e sanidade em seu filme seguinte, que inaugurou uma parceria importante em sua trajetória. Em “Quando Fala o Coração”, os papéis se invertem e ela é uma médica que tenta desvendar o que acontece com o personagem de Gregory Peck, um homem que, entre delírios, pode ser o autor de um crime. O filme é mais um testamento da habilidade de Bergman em acreditar no texto que fala. Isso parece óbvio, mas, em uma época tão marcada pelo exagero das performances, até os momentos histriônicos da sueca são carregados de sinceridade.
A década de 1940 se seguiu com vários petardos: a exuberância no morno “Mulher Exótica”, o bate-bola esperto com Bing Crosby em “Os Sinos de Santa Maria” e mais um clássico de Hitchcock, “Interlúdio”, onde Bergman colocou mais uma vez seu pé na história do cinema ao protagonizar um beijo inesquecível com Cary Grant. A parceria chegaria ao fim com “Sob o Signo de Capricórnio”, que foi antecedido por um papel que Ingrid sempre sonhou em interpretar: Joana D´Arc.
Fascinada com a camponesa francesa que virou revolucionária (e depois reconhecida como Santa pela mesma igreja que a condenou em vida), Bergman a interpretou primeiro no teatro, mas foi com o filme de Victor Fleming que ela conseguiu mais reconhecimento. No entanto, a despeito da indicação ao Oscar de melhor atriz e da performance firme da sueca, “Joana D´Arc” é mais um exemplar da prateleira de épicos esquecíveis de Hollywood.
Nas palavras de Katrina Longworth, Ingrid foi a “adúltera mais infame de Hollwyood”. Isso não se refere a seus romances extraconjugais com o fotógrafo de guerra Robert Capa ou com o diretor Victor Fleming, por quem teria sido profundamente apaixonada. O que a fez virar uma vilã perante os olhos do público e até dos políticos (oi?) foi o que aconteceu quando ela resolveu dar um até logo a Hollywood e passear por paragens neorrealistas.
Àquela época, Ingrid ainda estava casada com o médico Peter Lindström. As vidas profissionais de ambos, contudo, os distanciaram logo que eles puseram os pés em Hollywood: enquanto ela atuava em Hollywood, ele ficou em Nova York com a pequena Pia, fruto do relacionamento entre os dois.
Foi quando Ingrid conheceu o trabalho do diretor Roberto Rossellini. Interessada em embarcar em um universo tão distinto daquele do cinema de estúdio, ela mandou uma carta ao mestre do neorrealismo italiano, pedindo para um dia trabalhar com ele, mesmo sem saber falar a língua de Anna Magnani. Demorou um pouco até que Rossellini tivesse acesso ao pedido de Bergman, mas, para a surpresa dela, houve uma resposta e um convite, e, em 1949, ela viajou à Itália para filmar “Stromboli”.
O magnetismo entre os dois logo chegou aos ouvidos norte-americanos. Quando Ingrid decidiu terminar o casamento, ela sofreu com o machismo da sociedade: enquanto Charlie Chaplin, Humphrey Bogart e outros poderiam trocar de esposa a cada respirar, ela não tinha o mesmo privilégio. Pior: ousou em deixar a filha aos cuidados dos pais. Imperdoável. O Congresso se meteu na situação e a atriz foi alvo de um senador, que ordenou que ela fosse banida dos cinemas norte-americanos, tamanha a imoralidade. Para completar, Bergman logo engravidou, e não tinha mais como esconder o romance.
Mas, se Hollywood não a queria, azar o deles. A parceria profissional dela com Rossellini foi responsável por dar novo fôlego à carreira da artista, que se viu longe da obrigação de ser a mocinha virtuosa ou a vilã unidimensional: em “Europa 51”, ela é questionadora; em “Romance na Itália”, ela vive as agruras do amor maduro; em “O Medo”, a acompanhamos em uma montanha-russa de emoções. Nesse meio tempo, Bergman ainda viveu novamente Joana D’Arc nos palcos e teve gêmeas: uma delas, Isabella Rossellini.
O romance avassalador de Bergman e Rossellini não teve o final feliz que ela esperava. Em meados dos anos 1950, o casal já não se entendia mais e eram notórias as puladas de cerca do diretor. Se a vida pessoal não estava lá grandes coisas, o trabalho reservava grandes surpresas à atriz.
Em 1956, ela riscou mais um nome da lista dos sonhos dos cineastas e trabalhou com Jean Renoir no colorido e confuso “Estranhas Coisas de Paris”. No mesmo ano, foi a vez de viver uma persona tão controversa quanto a sua querida Joana d’Arc: Anna Andersen, a jovem que acreditava ser herdeira da família Romanov em “Anastasia – A Princesa Esquecida”. Filme de estrutura maçante, “A Princesa…” tem como trunfo o trabalho de Ingrid, que consegue ser regal, confusa e astuta sem entregar em nenhum momento as intenções da personagem.
Foram sete anos de exílio e Hollywood estava com saudades. Em 1957, ela teve o melhor presente de boas-vindas possível: um Oscar de melhor atriz por “Anastasia”, derrotando nomes como Deborah Kerr e Katharine Hepburn. Curiosamente, Ingrid não apareceu para receber o carequinha dourado (o amigo Cary Grant a representou), mas finalmente pisou em solo norte-americano para receber um prêmio da crítica de Nova York.
Apesar disso, foram poucas as investidas dela no cinema Hollywoodiano: teve um charmoso Stanley Donen (‘Indiscreta’) e algumas incursões na tevê. Entre filmes menos memoráveis, ela finalmente voltou a mostrar seu magnetismo em “Flor de Cacto”. O filme responsável por revelar Goldie Hawn (no cinema, ao menos, porque ela já era conhecida na televisão) é bem errático e até irresponsável com suas personagens femininas, mas vale por uma Ingrid claramente morrendo de se divertir, sobretudo na cena em que dança, totalmente desengonçada e tão adorável quanto a jovem que as plateias conheceram em “Intermezzo – Uma História de Amor”.
Na década de 1970, Ingrid pôs o pé no acelerador. A atriz não parecia disposta a dialogar com a Nova Hollywood (ou eles não se interessaram por ela), mas houve algumas exceções honrosas.
Uma delas lhe rendeu o terceiro Oscar da carreira (agora como coadjuvante) e a entrada no clube seleto frequentado por Katharine Hepburn e Meryl Streep. Ingrid aparece pouco em “O Assassinato do Expresso do Oriente”, de Sidney Lumet, mas é marcante o suficiente para roubar a cena em um elenco que tinha Lauren Bacall, Albert Finney e Sean Connery. Em seguida, ela participou do último filme de Vincente Minnelli, com a filha Isabella, que já dava os primeiros passos na carreira de atriz e modelo.
O trabalho seguinte de Ingrid foi o seu último no cinema, mas mostrou que ela ainda tinha uma carta na manga. Àquela época, Ingmar Bergman já era um diretor respeitado, com obras-primas como “Morangos Silvestres” e “Gritos e Sussurros” já em sua filmografia. A mesma Ingrid que um dia havia procurado Roberto Rossellini ainda estava lá, e, quando conheceu o conterrâneo (novamente, sem parentescos), se mostrou admiradora de seu trabalho. O resultado é um drama familiar intocável, que tem Ingrid e Liv Ullmann expurgando demônios em cenas dolorosas e carregadas de demônios. Além de ter rendido a última indicação ao Oscar para a atriz (sua sétima, na contagem final), “Sonata de Outono” também lhe trouxe novamente na pele de uma pianista, quase que uma ode não oficial à sua estreia Hollywoodiana com “Intermezzo”.
Ali, Ingrid já havia sido diagnosticada com câncer e não tinha mais o pique de outrora para continuar. Seu último trabalho foi um telefilme em que atua no total sacrifício físico: em “Golda”, ela é a primeira-ministra de Israel Golda Meir. Aos 66 anos e debilitada com a doença em avanço, a atriz aparece em algumas cenas com o braço apoiado, já que não tinha como mexê-lo. Nada que atrapalhasse sua performance: mesmo com a estrutura clássica do telefilme biográfico, “Golda” tem mais uma atuação carregada de sinceridade. Infelizmente, a última.
Ingrid morreu no mesmo dia em que nasceu, em agosto de 1982. Ali, os votos para o Emmy já haviam sido computados, então sua morte não teve influência no que ocorreu três semanas depois, quando ela foi premiada pelo desempenho em “Golda”. Pia, a filha mais velha, subiu ao palco e agradeceu em nome da mãe.
Uma carreira longa que a colocou na história da sétima arte e uma vida pessoal que lhe inseriu no olho do furacão. Ingrid nunca foi de concessões, seja com os papeis que interpretava ou com a vida que queria levar. Nunca colocou o trabalho em segundo plano, e, por isso, foi alvo de um caminhão de julgamentos quando não abriu mão do cinema e dos palcos para se dedicar à maternidade. Caso quisesse, sem problemas, mas colocou a filha mais velha aos cuidados do pai e deixou os três filhos italianos morando basicamente sozinhos quando se separou de Rossellini. Não que eles tenham ressentimento algum. Do contrário: os quatro rebentos de Ingrid a celebram até os dias de hoje, assim como o mundo aprendeu a celebrá-la, e a indústria parece ter entendido que o que uma mulher decide em sua vida pessoal nada tem a ver com o trabalho que desempenha.
Mas Ingrid merece ser lembrada por mais que o exílio ao qual foi imposta. Ilsa, Joana, Charlotte, Maria, Katherine, Stephanie, Karen, Irene, Paula, Constance… Tantas mulheres que viveu com a excelência de alguém que não tinha medo do novo, que estava sempre em busca do arriscado e que, mais que isso, estava disposta a criar, com sua própria atuação, a substância que muitas dessas mulheres talvez não tivessem no papel.