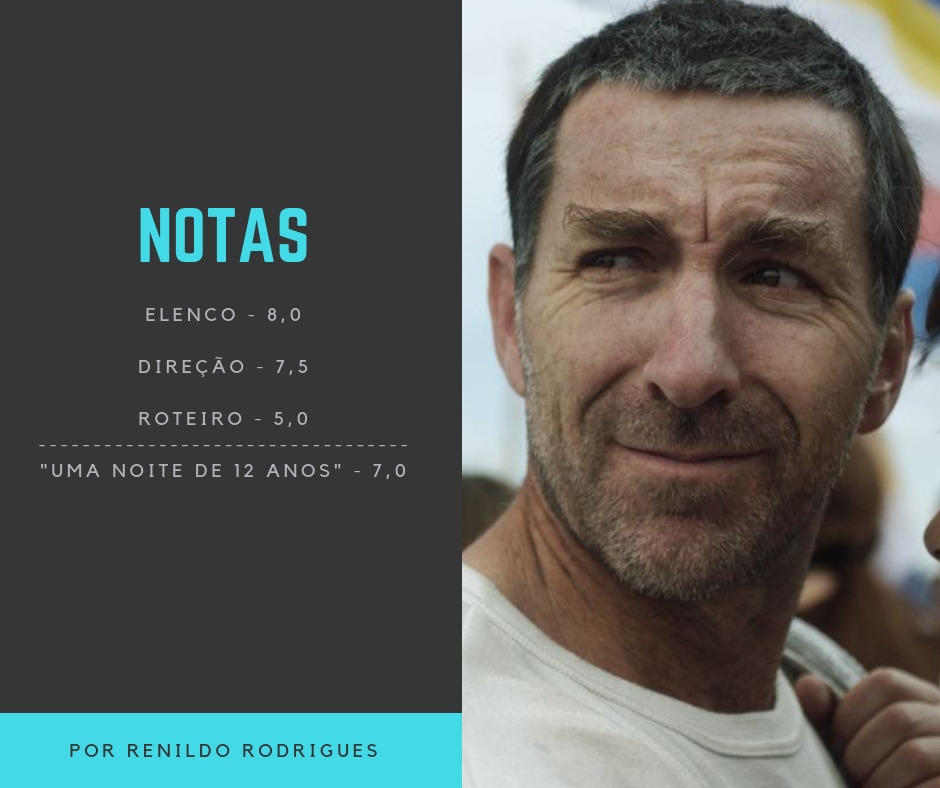A primeira cena dá o tom: num plano-sequência circular e atordoante, soldados do recém-instaurado regime militar do Uruguai adentram uma prisão não-identificada e sequestram um grupo de presos. São dissidentes políticos, ligados à Frente de Liberação Nacional, os chamados Tupamaros, que vinham sendo a principal força de oposição ao novo regime naquele começo dos anos 1970 – e, pelo resto do filme, a desorientação, o tumulto e a violência desses minutos iniciais irá marcar a fundo a vida de três presos, cuja história o filme resgata.
Uma Noite de 12 Anos, o segundo longa do diretor uruguaio Álvaro Brechner (Mau Dia para Pescar), faz muito para expor a dimensão humana da tragédia política – num momento em que, seguindo aquelas voltas incompreensíveis que o mundo dá, vários países parecem dispostos a abandonar décadas de martírio de civis e regimes democráticos duramente conquistados para ceder ao apelo de demagogos e proto-ditadores, isso é sempre uma lembrança desejável e instrutiva. Pena que a obra fique presa demais a esse enfoque: em suas tentativas de mostrar o impacto avassalador das prisões, torturas e o estado de permanente sobressalto sobre seus personagens, Brechner acaba resvalando no sentimentalismo e em escolhas equivocadas para a sua trama.
Mas, afinal, quem são esses presos? Os então jovens e combativos Mauricio Rosencof (Chino Darín – filho de Ricardo) e Eleuterio “Ñato” Huidobro (Alfonso Tort), que depois virariam figuras influentes na vida política uruguaia, e Alberto “Pepe” Mujica – o próprio (vivido por Antonio de la Torre, de Os Amantes Passageiros), futuro presidente do Uruguai e admirado em todo o mundo político, independente do matiz, pelo despojamento e apoio incansável a causas beneficentes. Um destino, por sinal, do qual, se o contassem, ele próprio riria, em desespero, pelos muitos porões onde seria alijado de qualquer contato humano naquela noite de doze anos.
Três personagens, ou dois núcleos – enquanto Mauricio e Ñato têm a sorte de seguir sempre juntos, onde conseguem manter a comunicação – proibida – com recursos como bater “letras” com as mãos nas paredes, Pepe segue em isolamento total, o que quase o leva à loucura. Pelos 12 anos retratados no filme, os presos só recebem ecos remotos do mundo lá fora – a amizade com o comandante de um dos cárceres lhes permite acompanhar a Copa do Mundo pelo rádio, fragmentos de jornais mostram que o grupo pop ABBA é a sensação do momento, a visita de uma comissão da Cruz Vermelha sugere que há uma desconfiança externa em relação ao regime uruguaio –, mas tudo o que eles conhecem de concreto é a indiferença dos soldados, convictos de estarem trabalhando pela paz social, e a rotina quase banal de agressões e achaques.
O filme é bastante eficaz, aliás, ao retratar em cores cruas a realidade desses presos. Mas, ao longo da projeção, duas coisas começam a incomodar bastante: a recorrência com que o filme retoma esses expedientes, criando sequências longas e repetitivas que perdem muito, em impacto, diante das cenas mais incisivas do começo – as intermináveis ruminações de Mujica acabam enfraquecidas assim – e a tendência do filme de escorregar para o sentimental, como quando, no que poderia ser uma das cenas mais fortes do filme, Ñato simula jogar uma partida de futebol, sublinhada por ruídos óbvios de uma bola quicando (quando a linguagem corporal tão expressiva do ator poderia ser todo o espetáculo) e uma música lacrimejante que só distanciam quem assiste da catarse emocional imaginada no roteiro. Esse desequilíbrio cansa, e às vezes faz parecer que nós mesmos levamos muito tempo para sair daquela situação aflitiva.
São momentos, porém, que não diminuem o cuidado com a produção, o trabalho bastante sensível do elenco – o carisma de Darín e Tort e a atuação densa de La Torre nos vendem muito facilmente esses personagens, por vezes opacos em sua falta de complexidade – e, principalmente, a necessidade urgente de se revisitar essa história. Conhecer a experiência da ditadura, para os que simplesmente se opunham a ela, fossem ou não radicais políticos, pode ajudar a trazer algum discernimento a quem, em sua soberana falta de empatia, parece só ter visto a suposta prosperidade da complacência e da indiferença de quem preferiu não se incomodar com as perseguições, as torturas e assassinatos, e levou sua vida com alguma calma e relativa felicidade nos anos de chumbo. Àqueles a quem o cantor cubano Silvio Rodríguez, em “Pequeña Serenata Diurna”, parece ter se referido nos versos “soy feliz, soy um hombre feliz/y quiero que me perdonen/por este día/los muertos de mi felicidad”.