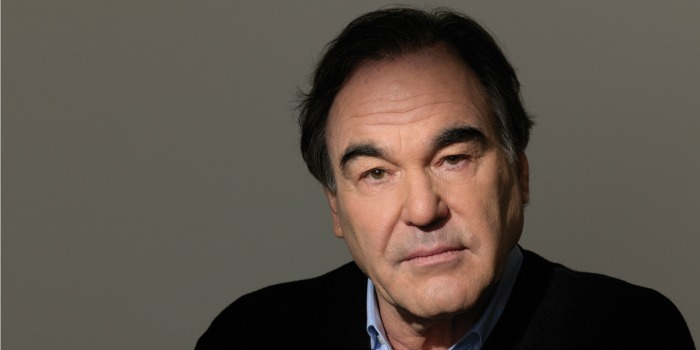Imagine isso: aos 23 anos, você já trabalhou com astros do porte de Sharon Stone e Robert DeNiro – foi ele quem lhe deu a oportunidade decisiva, por sinal –, foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, construiu uma boa reputação com filmes independentes, e, finalmente, está conquistando um lugar no mainstream. De repente, a sua primeira grande produção decola a níveis nunca vistos de sucesso e repercussão, levando o seu nome a todos os lugares – de programas sobre celebridades a pôsteres em quartos de adolescentes, do remoto Butão às longínquas ilhas Faroe – tornando o seu rosto tão conhecido (e desgastado) que ninguém mais lhe leva a sério. Será que tanto esforço vai acabar assim, com você reduzido a um mero… famoso?
Leonardo DiCaprio passou por isso – e o fato de ele ter dado a volta por cima e se tornado um dos atores mais respeitados e prolíficos do cinema mundial, além de uma figura pública responsável e influente, é um tributo à sua capacidade de se recolher, centrar e dedicar seu talento a projetos desafiadores, não à busca por mais notoriedade e dinheiro. Com o sucesso avassalador de Titanic às costas – um leviatã que já fulminou a carreira de outras jovens promessas, como Tom Hulce (em Amadeus) e Mark Hammill (Star Wars) –, DiCaprio soube se desvencilhar das armadilhas da fama e conduzir uma carreira exemplar, possivelmente a mais movimentada e brilhante entre os atores de sua geração – e que deveria servir de modelo para mais gente talentosa e arranhada na praça (alô, Johnny Depp, Nicolas Cage, John Cusack, Michael Fassbender… pronto, parei).
– –

O começo: de ator cult ao primeiro gosto do sucesso (1991-1996)
Leonardo Wilhelm DiCaprio nasceu em 1974 em Los Angeles, Califórnia. Filho do quadrinista e performance artist George DiCaprio (amigo de Timothy Leary e Harvey Pekar – como não se tornar alguém especial convivendo com essas figuras?) e da secretária Irmelin Indenbirken, o futuro ator, como se vê, herdou a beleza dessa combinação especial (e duplamente tetracampeã – desculpem, ainda trago a Copa no coração) entre Itália e Alemanha.
Os pais de DiCaprio se separaram quando ele era criança, e Leo foi viver com a mãe, embora George tenha continuado a ser uma presença assídua e incentivadora. Ainda na infância, DiCaprio já se arriscava diante das câmeras, trabalhando em comerciais e séries de TV. Uma participação na primeira (e malfadada) versão para a TV de Parenthood, a comédia de 1989 com Steve Martin (lançada no Brasil como O Tiro que Não Saiu pela Culatra), foi o primeiro trabalho de projeção nacional do jovem ator.
A estreia no cinema, por sua vez, viria em 1991, com Criaturas 3 – se você quiser saber, um capítulo irrelevante, numa das séries mais inexpressivas do gênero terror. Mas quem liga? Quantos intérpretes e cineastas celebrados não tiveram sua primeira e humilde oportunidade na família macabra, mas sempre inclusiva, do thriller? Tal como George Clooney, entre os atores, ou Francis Ford Coppola, entre os cineastas, DiCaprio começaria a sua trajetória especial com algo que, à falta de um termo ainda mais chulo, poderíamos chamar de trashzão.
Mas ele não perderia por esperar. Além de emplacar um trabalho melhor na televisão – várias participações na sitcom Growing Pains, uma das séries mais queridas do público americano à época –, DiCaprio foi escolhido por ninguém menos que Robert DeNiro para ser o protagonista de O Despertar de um Homem, lançado em 1993. Essa, sim, pode ser considerada a entrada para valer de DiCaprio no jogo. Na pele de Tobias “Toby” Wolff, uma criança constantemente atormentada pelo novo marido de sua mãe, Dwight (DeNiro), DiCaprio mostrou talento para papéis densos e emocionalmente exigentes. A bilheteria modesta não o fez famoso, mas trouxe o apoio e encorajamento de um dos maiores nomes de Hollywood – DeNiro –, que seria um mentor para a sua carreira nos anos seguintes, além de chamar a atenção de seu grande colaborador, Martin Scorsese, para o trabalho do rapaz – um gesto que renderia enormes dividendos para Leo, como se verá.
O status de ator cult foi firmado em mais um projeto pequeno de boa repercussão: o comovente Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador (1993). Como Arnie, o irmão deficiente do protagonista, vivido por Johnny Depp, DiCaprio provou que a veia dramática mostrada em Despertar não foi apenas uma inspiração momentânea ou resultado da sorte de ter alguém como DeNiro na retaguarda: o garoto realmente levava jeito para a coisa. E o filme também era melhor, com seu tom agridoce e ecos de A Última Sessão de Cinema (1971) em seu retrato da vida sufocante na América interiorana, conservadora. Dessa vez, o mundo, ou pelo menos o mundo do cinema, prestou atenção: DiCaprio foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, e críticos importantes, como Janet Maslin e Roger Ebert, começaram a escrever textos elogiosos ao seu trabalho.
Com as portas de Hollywood abertas, DiCaprio começaria sua escalada rumo ao mainstream: em Rápida e Mortal (1995), ele contracena com Sharon Stone, que bancaria o ainda desconhecido Leo pagando o seu cachê, quando a Sony Pictures se recusou a fazê-lo; no controverso Eclipse de uma Paixão (mesmo ano), Leo (no furacão pós-Titanic) daria muito o que falar, com seu retrato cru e intenso (e também exagerado no tom) do poeta Arthur Rimbaud, que incluía cenas de sexo homossexual que não têm nada demais, mas foram suficientes para fazer as adolescentes pró-Jack Dawson abjurarem o filme e pedirem sua destruição; enfim, com Romeu + Julieta (1996), a versão modernosa e extravagante do diretor Baz Luhrmann para a tragédia shakespeariana, com todas as virtudes e defeitos típicos desse diretor (de quem eu particularmente não gosto), Leo emplacaria um sucesso maiúsculo, impulsionado pelos belos rostos jovens dele e de Claire Danes, e pela trilha certeira, cheia de bandas emblemáticas da teenage angst daqueles tempos (Garbage, Cardigans e Radiohead entre elas), criando um fenômeno teen comparável a Segundas Intenções ou Meninas Malvadas.
DiCaprio, junto com Danes, Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Tobey Maguire, Ryan Phillippe e Ewan McGregor, compunha uma nova classe de rostos jovens, confiantes, ambiciosos e talentosos, alguns dos quais ficariam por aquela virada de milênio (Philippe, Barrymore), enquanto outros, principalmente Leo, iriam participar de alguns dos filmes mais interessantes desses últimos vinte anos. Mas DiCaprio teria de passar primeiro por esse teste do ácido chamado Titanic.

Superexposição: os anos como “muso” teen entre Titanic e A Praia (1997-2000)
Romeu + Julieta, sob qualquer aspecto, pode ser considerado um sucesso. Rodado a modestos (para a economia de Hollywood) 14 milhões de dólares, ele faturaria 147 milhões em sua temporada nas telas mundiais – mais de dez vezes o valor da produção, portanto. Mas o que é essa ninharia diante dos 2,187 bilhões de dólares amealhados por Titanic (1997), simplesmente um dos maiores triunfos na história do cinema de espetáculo?
É difícil imaginar, hoje em dia, como isso sequer chegou a ser considerado, mas especialistas da indústria, às vésperas do lançamento da obra-prima de James Cameron, só conseguiam vislumbrar um desastre monumental. O filme mais caro já feito até então, com dois protagonistas conhecidos, mas que estavam longe de ser estrelas (DiCaprio e Kate Winslet), com mais de três horas de duração – tudo sugeria apenas uma monstruosa indulgência do cineasta, mais conhecido, então, por ter inovado o cinema de ação com O Exterminador do Futuro, Aliens e True Lies. Mas, como alguém supostamente já disse, quem esteve lá, viu.
Do alto dos meus 30 anos, tenho uma lembrança vívida de como foi assistir a Titanic durante a exibição em circuito. Muito antes de Harry Potter, Crepúsculo e da fabricação em série de filmes-evento, que são puxados por livros de sucesso e, portanto, testados e aprovados antes de ganharem as telas, lá estava um trabalho que virou um fenômeno cultural por mérito próprio. Como, imagino, possuir um disco dos Beatles nos anos 1960, a trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite nos 70, ou o Thriller, de Michael Jackson, nos 80, Titanic virou uma exigência para quem quisesse estar “por dentro”: “como assim, você ainda não viu Titanic? Em que mundo você vive? O que você fez da sua vida?” – era nesse nível.
Ia-se ao cinema ver Titanic porque era um filme que estava em todo lugar – documentários na TV sobre a produção da obra, sobre o desastre real, o clipe ubíquo da música-tema de Celine Dion (ubíqua também no rádio), e, principalmente, uma explosão de DiCaprio: tanto quanto os Backstreet Boys ou os Hanson, Leonardo DiCaprio foi massivamente adotado por garotas adolescentes em todo o mundo naquele fim de 90’s; não havia uma edição de Capricho em que ele não fosse assunto em capas e pôsteres, e sua vida privada foi meticulosamente devassada pelos tabloides.
DiCaprio, um trabalhador dedicado desde os cinco anos de idade, não se fez de rogado: aproveitou os rios de dinheiro e a súbita explosão da fama para frequentar as altas-rodas (as festas e a porralouquice constante ao lado do amigo Tobey Maguire, nessa época, são parte da mitologia de Hollywood), namorou celebridades (a cantora Emma Bunton, das Spice Girls – uma espécie de Liam Hemsworth e Miley Cyrus da época – e a modelo Kristen Zang [alguém?] são affairs dessa época) e, principalmente, capitalizou a paixonite geral por Jack Dawson (seu personagem em Titanic) em novos blockbusters.
É dessa época o possível pior trabalho de Leonardo DiCaprio depois da fama: O Homem da Máscara de Ferro (1998). Apesar do elenco talentoso e carismático, com os grandes Gérard Depardieu, Jeremy Irons e Gabriel Byrne, trata-se de uma obra tão cafona e mal-desenvolvida que só o apelo de DiCaprio entre as menininhas foi capaz de torná-la o enorme sucesso que ela afinal virou – a sua atuação, pouco envolvente, só serviu pra piorar a má-vontade dos críticos, na ressaca do filme sobre o navio.
Uma tentativa de alterar essa rota foram dois trabalhos com nomes ligados à produção mais autoral: o veterano Woody Allen, com sua ótima ponta em Celebridades (1998), dando vida a um astro temperamental e ególatra que traz muito do garotão festeiro que, até há bem pouco, ele era; e o indie inglês Danny Boyle, em A Praia (2000), uma produção interessante – e subestimada – sobre um grupo de pessoas que tenta montar uma comunidade paradisíaca numa ilha remota. Mais uma vez, a crítica chiou – o rapaz corajoso e sem medo de emoções fortes que havia dado vida a Arthur Rimbaud e Arnie Grape havia se convertido num ator famoso, mais conhecido pelo carisma do que pelo trabalho inspirado. Contra toda a crescente antipatia, Robert DeNiro – mais uma vez – o pôs no rumo certo.

NÃO foi apenas um sonho: a parceria com Martin Scorsese e o retorno aos bons trabalhos (2002-2008)
Leonardo DiCaprio, em 2002, estava longe de ser uma unanimidade: a sua imagem estava mais associada aos tabloides do que aos bons trabalhos (inclusive pelo namoro comentadíssimo com a top brasileira Gisele Bündchen), e a suspeita, na indústria, era que ele seria um fogo-fátuo: um ator promissor que consumiu o talento na luz efêmera da celebridade. Contra esse diagnóstico sombrio – e sobejamente apressado –, DiCaprio deu a única resposta possível: bons trabalhos.
Primeiro, a excelente parceria com Steven Spielberg em Prenda-me Se For Capaz (2002), uma mistura lindamente urdida (e inclassificável) de mistério, comédia, policial e drama. A maturidade de seu trabalho como o protagonista Frank Abagnale, um impostor profissional que conseguiu aplicar golpes milionários e enganar o todo-poderoso FBI várias vezes – tudo isso antes dos 19 anos –, é a prova de que um outro DiCaprio vinha sendo gestado sob a casca do ícone teen. Depois de esbanjar as benesses da fama no período triunfal de Titanic, o ator decidiu não ficar marcado por aquele megasucesso, e foi à luta.
A virada mais importante, porém, e que mudaria o jogo para sempre em favor do ator, viria nesse mesmo ano (na verdade, na mesma semana do Natal de 2002 em que Prenda-me também foi lançado). Por recomendação de DeNiro, DiCaprio seria convidado pelo grande diretor Martin Scorsese para ser o protagonista de sua primeira superprodução: Gangues de Nova York (2002). Começava ali a parceria mais importante entre ator e diretor do cinema americano nestes últimos 16 anos. Os cinco filmes que os dois fizeram juntos – além de Gangues, temos O Aviador (2004), Os Infiltrados (2006), Ilha do Medo (2010) e o sensacional O Lobo de Wall Street (2013) – são não apenas alguns dos melhores trabalhos de um dos grandes cineastas da história, mas também modelos de química criativa, e – talvez o mais importante – afirmações eloquentes do talento e versatilidade do rapaz que, até bem pouco antes, temia ficar marcado como o pobretão no navio dos ricos – até se deparar com aquele iceberg antipático, claro.
Para aqueles que, até hoje, duvidam da maestria do trabalho de DiCaprio como ator, é só lembrar o quão diverso é o seu catálogo com Scorsese:
- temos o ressentido e sombrio (mas ainda assim galante e compassivo) Amsterdam Vallon, o órfão em busca de vingança de Gangues;
- o rico e sedutor Howard Hughes, o personagem mítico de Hollywood atormentado pelos fantasmas de sua deterioração mental, recriado com bravura em O Aviador;
- o astuto e angustiado policial Billy Costigan, de Os Infiltrados, esmagado pelo peso de ter que conviver entre os maus e ainda ser vítima de um jogo de gato-e-rato com um falso policial no seu encalço;
- o perturbado detetive Teddy Daniels, de Ilha do Medo, que, para não revelar muito sobre o filme, limito-me a dizer que pode não ser exatamente a pessoa mais sã num abrigo para doentes mentais;
- e, finalmente, o fabuloso e amoralíssimo corretor da Bolsa Jordan Belfort, de O Lobo de Wall Street, um tour de force de Scorsese e provavelmente o mais complexo, multifacetado e inspirado trabalho que DiCaprio, um ator que já está entre os maiores nomes na história em sua profissão, nos entregou.
Como ficar indiferente à sequência em que ele mal consegue balbuciar depois de ingerir uma quantidade colossal de drogas? Ou o discurso, com o fervor de um pregador religioso, em que ele desiste de abandonar a empresa de fraudes que ele fundou? Ou uma cena menor, mas ainda assim sensacional, em que ele grava um comercial tosco, naquele estilo bem brega da TV dos anos 90? Se, ainda assim, DiCaprio não pode ser considerado grande, suspeito que seja uma implicância pessoal sua.
Mas a grandeza que DiCaprio revelou na sua volta por cima não pode ser medida apenas pela colaboração com uma das lendas da direção – como escrevi a respeito de Cate Blanchett, ela aparece mais nítida quando o ator consegue trazer dimensões inesperadas a trabalhos que consideramos inferiores, menores.
E o desempenho irrepreensível que DiCaprio realizou em contextos bons, mas incapazes de alçar voos mais altos, como o suspense político Rede de Mentiras (2007), de Ridley Scott, o envolvente filme-denúncia Diamante de Sangue (2006), de Edward Zwick, e a tragédia provinciana de Foi Apenas um Sonho (2008), que traz uma gloriosa reedição do dueto DiCaprio/Winslet, onze anos (que parecem anos-luz) depois do frisson de Titanic, confirmam, de uma vez por todas, que a força dramática dos seus melhores trabalhos da adolescência – para aproveitar o gancho do nome do filme de Sam Mendes, que nasceu para virar meme – não foi apenas um sonho. Leo não se deixou submergir – pelo contrário, ele estava mais forte do que nunca (e sem mais trocadilhos, ao menos por um tempo).

O regresso: o reconhecimento geral como grande ator – incluindo o tão adiado Oscar – e o trabalho humanitário (2010-hoje)
Os últimos 10 anos trouxeram um status especial, provavelmente único, para DiCaprio. Arrisco dizer que nenhum outro ator americano conhecido por desempenhos dramáticos intensos – gente acostumada a empenhar o corpo e a alma nos filmes, como Marlon Brando, Robert DeNiro, Al Pacino e Daniel Day-Lewis – se manteve tão fecundo e produtivo quanto Leo DiCaprio vem sendo. Ele conseguiu a tão rara, para qualquer área, unanimidade (mesmo com tudo o que a palavra implica de desconfiança): um rosto conhecido do público, cuja popularidade consegue alavancar projetos menos explicitamente comerciais; um profissional confiável, conhecido na indústria pela disciplina e dedicação aos compromissos; e uma figura pública influente e responsável, a ponto de ser convidado pela ONU para atuar como embaixador de causas como a preservação do meio ambiente, a defesa dos direitos dos nativos-americanos e da população LGBTQ, e o apoio humanitário a desabrigados e refugiados. Nada mau para quem era visto, até dez anos atrás, como uma dessas sensações adolescentes, que se esgotam tão logo as próximas férias de verão chegam.
No cinema, o ator mostrou amadurecimento e consistência cada vez maiores. Ao exagerado, quase barroco A Origem (2010), um dos vários filmes-evento inflados do diretor Christopher Nolan, DiCaprio emprestou sua contenção e sutileza – você poderia não se comover com a interminável sequência da queda do carro, mas DiCaprio, ao lado de Marion Cotillard, quase te convencia de que aquilo era bom. Em J. Edgar (2011), de Clint Eastwood, Leonardo é a única nota afinada numa orquestra em guerra consigo mesma – o roteiro era fraco, a direção, sem ritmo, até a maquiagem era equivocada (Armie Hammer deveria parecer um idoso, não um sobrevivente de um incêndio); já no superlativo Django Livre (2012), de Quentin Tarantino, DiCaprio dá a performance mais sinistra de sua carreira, como o sombrio e caviloso senhor de escravos Calvin Candie, o vilão do filme. E só DiCaprio não me deixa descartar como uma fruta podre o opulento, extravagante, esdrúxulo O Grande Gatsby (2013), sua primeira colaboração com Baz Luhrmann desde o bem-sucedido Romeu + Julieta. Leo produz talvez o melhor Gatsby entre as várias versões para o cinema, só para ver a sanha kitsch de Luhrmann tornar tudo inchado e pomposo, até ficar intragável.
Mas ser amigo de Scorsese, se foi a grande bênção na carreira de DiCaprio, também tem seus lances de maldição: tal como o diretor, um notório pé-frio da Academia de Hollywood, premiado quase com um mea-culpa no muito distante 2007, por Os Infiltrados (desde pelo menos 1977, com Taxi Driver, já se poderia considerá-lo injustiçado), Leo teve de esperar até 2016 para pôr a mão num Oscar. E por um trabalho que, se mantém o alto nível a que DiCaprio nos acostumou, empolga muito mais pela direção assombrosa de Alejandro Iñárritu e pela fotografia estupenda de Emmanuel Lubezki: O Regresso (2015). Fica, porém, a pergunta: deveríamos reclamar? A indicação por Gilbert Grape, em 1993, foi uma bem-vinda alavanca na carreira do guri DiCaprio, e, afinal, a justiça foi feita, mesmo se trabalhos mais surpreendentes, como as várias colaborações com Scorsese (nenhuma mais do que Lobo), ou o sensacional Django Livre, mereceriam mais.
– –
E DiCaprio com tudo isso? Ele já tem o mais importante: uma das carreiras mais longevas e recompensadoras do cinema, a lealdade do público, a admiração geral dos colegas. Se ele conseguiu todas essas coisas depois de passar pelo maior moedor de carreiras conhecido pelo homem – o megaestrelato prematuro, que lhe dá poderes de semideus e depois lhe joga na vala comum das expectativas não-saciadas (como poderiam?) –, a falta de um reconhecimento material como uma estatueta dourada poderia facilmente ser relevada. Nos filmes – e os memes da internet não cansam de lembrar – os personagens de Leonardo têm uma tendência perigosa a morrer de maneiras inglórias: congelados no mar, surpreendidos num elevador, deitados de forma banal em algum pedaço ignorado da África.
O ator DiCaprio, porém, é bem diferente: tem mais a ver com o epíteto atribuído àquele malfadado gigante do mar, que quase lhe afundou de vez a carreira: insubmergível, és tu, Leo.
*Texto original alterado para substituir a equivocada expressão humor negro.