Me Chame Pelo Seu Nome é possivelmente o meu filme favorito desta temporada de premiações. Ainda faltam um ou dois para completar a maratona dos prêmios principais do Oscar (por que você parece tão chato, O Destino de Uma Nação?), mas o longa de Luca Guadagnino, indicado a Melhor Filme, Ator e Roteiro Adaptado, me fisgou de tal jeito que nenhum outro conseguiu.
O grande triunfo do filme está na sua delicadeza: ao contar a história de amor entre o adolescente Elio (Timothée Chalamet) e o estudante americano Oliver (Armie Hammer), durante um verão no norte da Itália, Guadagnino apresenta um conto de amadurecimento, despertar sexual e amor. Em resumo, muito do que o Lucas Pistilli já falou por aqui no Cine Set, na crítica do filme.
Baseado no livro de André Aciman e roteirizado pelo veterano James Ivory, Me Chame Pelo Seu Nome é praticamente uma antítese do universo de clichês que já rondaram (e ainda rondam) o cinema queer: sem a epidemia da AIDS, sem espancamentos, bullying, homofobia, mortes, conflitos da descoberta da sexualidade e sem um final trágico – a não ser, claro, a tragédia anunciada do primeiro amor com prazo de validade e seu consequente baque emocional.
O escritor e roteirista Bret Easton Ellis, autor de Psicopata Americano, em seu texto sobre o filme, chegou até mesmo a sugerir um termo para categorizá-lo: um “filme pós-gay”, na medida em que o longa nem mesmo define os próprios personagens (ao que tudo indica, e pelas relações que ambos mantêm também com mulheres, Elio e Oliver são bissexuais, embora o longa tenha ganhado o status de “romance gay”).
Com essa descrição, parece até mesmo que o filme se passa em uma realidade surreal, e com uma absoluta ausência de conflitos, embora esse não seja esse caso. Mas é exatamente dessa percepção que vem o questionamento: ignorar esse tipo de temática configura uma espécie de “falha” em termos de representatividade ou é simplesmente uma escolha narrativa?
“Mas não é ‘Moonlight’…”
Mesmo em tempos em que a indústria começa lentamente a galgar em direção a representações mais diversas das minorias nos filmes, nós, como público, ainda somos tão carentes de nos vermos na tela que o simples fato de surgir um filme com protagonistas homossexuais sendo de repente bem recebido e bem falado mundo afora antecipa meses de expectativa – Carol (2015) e Moonlight (2016) são alguns títulos mais recentes dessa leva, por exemplo. Me Chame Pelo Seu Nome não passou incólume por isso, e o resultado de todo o hype acabou sendo frustrante para parte do público que esperava se identificar mais com o filme.
“Muito branco”. “Parece um clipe do Troye Sivan”. “Muito bonito”. “É só uma história bobinha de amor”. “Não é Moonlight”. Sim, nem todos os filmes (infelizmente) podem ser Moonlight – Sob a Luz do Luar, o vencedor surpresa do Oscar do ano passado. Mas isso não necessariamente faz de um filme algo ruim.
Para mim, parece haver uma fronteira entre escolhas narrativas que são simplesmente isso, escolhas em prol de uma história a ser contada, e entre decisões problemáticas que acarretam em apagamentos e invisibilizações. A honestidade de Me Chame Pelo Seu Nome, por exemplo, está em se ater ao que se propõe: Elio e Oliver são dois jovens brancos obviamente abastados, e que não têm que vencer barreiras sociais para ficar juntos. Porém, o próprio filme (e também o livro) reconhecem a posição de privilégio em que os protagonistas se encontram: Elio é filho de intelectuais de elite, bem esclarecidos e sem preconceitos, que “até têm amigos gays” e que percebem antes mesmo do filho a atração que este sente por Oliver, e o incentivam. O próprio Oliver, num dos diálogos finais, comenta a sorte que Elio tem em seu contexto familiar (“os meus pais teriam me mandado para um internato”).
O diretor Luca Guadagnino claramente não está interessado em problematizações. Até mesmo a diferença de idade entre os dois personagens – Elio tem 17 e Oliver tem 24 – não chega a ser vista como um problema, uma vez que o adolescente é retratado como maduro para sua idade e é a partir dele que surgem os avanços para o relacionamento entre os dois. Não há tabus, e há até certa dose de sanitização na ausência de cenas mais explícitas de sexo, mas tudo se ajusta em prol de contar uma história de amor íntima e delicada, com naturalidade. É o filme de “grande amor” predominantemente ausente no cinema queer, e que abraça um ideal helenístico de beleza tanto quanto as esculturas gregas que perpassam os estudos de Oliver e do pai de Elio.
Nesse sentido, seria até injusto comparar Me Chame Pelo Seu Nome com Moonlight, por exemplo, uma vez que são filmes que tomam caminhos e realidades diametralmente opostos. O longa de Barry Jenkins é, ao seu modo, também uma história de amadurecimento, mas uma que parte de Chiron, um jovem negro norte-americano que passa por violência física e psicológica em sua trajetória e por um conflito interno quanto à própria sexualidade e identidade no mundo. Moonlight corajosamente encosta em temas como a precariedade do sistema educacional, o abandono de menores, o abuso de drogas, auto-aceitação e homossexualidade na comunidade negra e periférica dos EUA. A obra não é “só” um filme queer, mas um que engloba uma visão abrangente do mundo ao seu redor – e é exatamente por isso que nem todos os filmes são Moonlight.
Assim, quando se pensa em termos de representatividade, isso faz de Me Chame Pelo Seu Nome necessariamente um mau exemplo? Ou é simplesmente uma escolha narrativa que se limita a falar de um tópico com honestidade, e só? A representatividade do longa está em outro rumo, no sentido de mergulhar na afetividade e complexidade de seus personagens, abraçar o espectro do desejo sexual e amoroso e propor uma história LGBT diferente da narrativa usual de punição ou de sofrimento. Não há apagamentos, uma vez que todos os privilégios estão postos à mesa – embora, é claro, isso faça da história justamente uma realidade completamente diferente à de vários de seus espectadores, e isso é perfeitamente compreensível como fator de frustração para muitos.
Porém, é tão-somente uma escolha narrativa que busca focar em um aspecto do cinema LGBT. É diferente de casos notórios de invisibilização narrativa: pensemos, por exemplo, em Stonewall: Onde o Orgulho Começou (2015), de Roland Emmerich, que passou por represália do próprio público LGBT antes mesmo de sua estreia. Ao contar a história da rebelião de Stonewall, um dos marcos históricos do movimento queer, Emmerich substituiu personagens importantes como a ativista negra e trans Marsha P. Johnson, responsável por jogar o primeiro tijolo do levante, por um elenco majoritariamente branco.
Já em terras brasileiras, no balaio dos péssimos exemplos estão filmes como Crô (2013), que presta um desserviço reafirmando estereótipos ou Do Começo ao Fim (2009), que higieniza os conflitos de um relacionamento incestuoso numa realidade, essa sim, absurdamente surreal. Por outro lado, enquanto isso, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014), assim como Me Chame Pelo Seu Nome, ignora alguns temas em prol de focar em outros aspectos: o protagonista gay e cego que não está apenas descobrindo sua sexualidade, mas embarcando na sua própria jornada de amadurecimento e busca pela independência.
Afinal, qual a fronteira?
Eis a questão: até que ponto podemos exigir de um filme baseado pelo que ele apresenta e não por como gostaríamos que fosse? É claro que exigir representatividade é cada vez mais necessário, mas, às vezes, não parecemos fazer demandas que vão além do escopo do filme em questão? Ou tudo é válido na reivindicação?
Eu claramente não tenho a resposta, mas me parece que a questão passa por um dos pontos citados: se a escolha narrativa é feita em prol de um aspecto importante da representatividade e a favor da história ou se falta bom senso na decisão e o resultado acaba prestando um desserviço ao público que se propunha a retratar.
Ir além do ambiente de Oliver e Elio em Me Chame Pelo Seu Nome, por exemplo, não caberia à história que é ali contada – e ainda se teria aqui a questão de com que propriedade Guadagnino poderia falar de um contexto diferente do seu, enquanto homem gay e branco? (Embora isso seja uma outra discussão mais longa para outra hora…)
Tomemos como exemplo ainda o recém-chegado Pantera Negra, que, mesmo que já consolidado como um fenômeno cultural antes mesmo de estrear, ainda teve sua dose de backlash por um senso de “falta de representatividade”: mais notadamente por uma cena deletada que supostamente implicaria na homossexualidade de uma das Dora Milaje, as guerreiras que defendem o trono de Wakanda. A questão é: se esse não era o ponto principal do qual o filme quer tratar, então por que a simples ausência dessa cena deveria invalidar todo o escopo de questões raciais trazidas pelo filme?
Pelo menos para mim, apresentar um simples flerte de um personagem com outro não me parece mais suficiente. É como um falso alarde, o que nos leva ao famoso problema do queerbaiting – assim como a Disney fez anunciando um personagem LGBT em sua versão live-action de A Bela e a Fera, e que terminou pura e simplesmente com um breve momento de um personagem homem sugestivamente olhando para outro.
A verdade é que nenhum filme conseguirá abarcar todo o universo de minorias em uma só história, e nenhum filme deveria se sujeitar a isso só para tentar parecer panfletário. Muito pelo contrário: quando se reivindica representatividade, só se ressalta ainda mais a necessidade de mais histórias, bem desenvolvidas, escritas, protagonizadas e dirigidas por essas minorias – mulheres, trans, homossexuais, travestis, negros, entre outros –, com a consciência e bom senso tanto dos autores quanto do filtro do público.


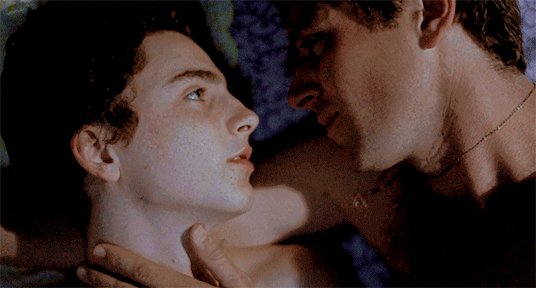

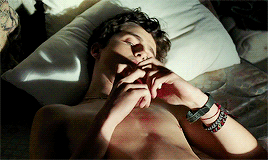
















O Destino de Uma Nação me surpreendeu, não é chato como parece , prendeu totalmente minha atenção, Gary Oldman está incrível.
Só agora parei para ler o artigo. Muito bom e bem argumentado. Adorei 🙂