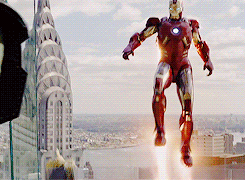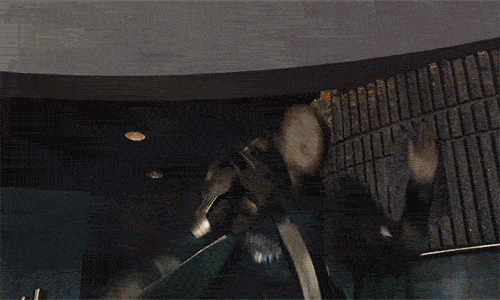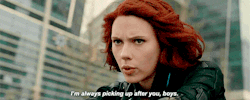Ah, 2012… Tempos mais simples. Ascensão do neofascismo? Pfff, não fala besteira. Pandemia mortal? Ha ha ha, faça-me rir. Tempos em que Tony Stark, um playboy bilionário, ainda podia ser visto através de um véu romântico que o punha na mesma linhagem de um Howard Hughes da vida; em que um certo distanciamento lúdico nos permitia projetar ali uma vida de aventuras regada a champagne. Agora sabemos que ele é apenas a inspiração para a persona do Elon Musk.
Talvez tenha sido mesmo sempre assim. Em 2012, os sinais da tempestade de merda que se aproximava já estavam todos ali (até mesmo no que se refere a uma pandemia: não é como se os cientistas que monitoram esse tipo de coisa não alertassem para a possibilidade de insurgência de algum novo vírus devastador). A questão, caro leitor, é que, em 2012, este que vos escreve (bem como boa parte do público desses filmes, e talvez até você) tinha 13 anos de idade, com todo um horizonte de possibilidades pela frente. Dez anos mais tarde, sobrevivendo aos dias mais por teimosia do que qualquer outra coisa, nossa geração aprendeu que a pior parte de envelhecer é que tudo vai ficando meio merda; não que já não fosse meio merda antes, mas é que, pelo menos, éramos jovens.
É engraçado pensar em “Os Vingadores” nesse contexto. Se vivemos a “morte do cinema”, como meu feed do Twitter anuncia diariamente (não sem certa razão), poderia ser argumentado que foi esse o filme a cimentar essa nova era: US$ 1,5 bilhão nas bilheterias e a satisfação para o estúdio de ter a “aposta” (como o chefão de produção da Marvel, Kevin Feige, chamou essa empreitada) recompensada. Em um mundo caminhando a passos firmes para a autodestruição, vivemos uma cultura que, ressequida e desgostosa, se vê obcecada pelo passado, pelo já conhecido, pela nostalgia e pelas propriedades intelectuais. Até porque, no fim das contas, mudar o mundo dá muito trabalho, mas, ei, lembra dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi?! Ah, tempos mais simples…
Só que, em 2012, as cartas ainda não estavam todas na mesa. Um jogador atento poderia, sem dúvida, prever as jogadas por vir, mas o resto de nós estava ocupado demais com “Candy Crush Saga” no Facebook. No que diz respeito a Marvel, planos para um grande crossover de seus heróis no cinema já tinham sido anunciados em 2005 – mas isso foi antes do lançamento de “Homem de Ferro” (2008), quando ninguém se importava realmente com a Marvel Studios. Corta para alguns anos depois: enquanto “Capitão América: O Primeiro Vingador” e “Thor”, ambos de 2011, ainda estavam para ser lançados (daí a menção a uma “aposta”), se iniciavam as filmagens de “Os Vingadores”.
Antes de perder todo o interesse em qualquer tipo de universo cinematográfico que seja, eu passei parte considerável da minha adolescência com esses filmes. Eles ditavam a conversa cultural (ainda ditam na escala macro, é claro), e todos queríamos ser parte dela. Claro, minha geração cinéfila ampliou os horizontes fílmicos e hoje tira sarro dos nerdolas urrando para capas e collants, mas houve uma época em que ser nerdola era até mesmo bacana – antes de se tornar um denominador comum. Nessa toada, a revisita aos “Vingadores” trouxe a constatação de que este é, bem… um filme bacana, justamente.
Antes da mancha digital
E os méritos do filme se tornam ainda mais claros quando ele é visto sob o prisma dos anos seguintes, com todas as sequências que vieram após “Vingadores”. Exemplo: aqui, você tem uma câmera fluida que consolida a geografia das cenas, o que ajuda a sustentar a ideia de que a ação têm alguma fisicalidade – em vez das cutscenes sem peso que constituem os longas posteriores dos irmãos Russo, que parecem acreditar que um plug-in de câmera na mão é o suficiente para disfarçar o fato de que seus filmes estão mais para um videogame que não se pode jogar.
Seguindo com as comparações ao que veio depois, é verdade que “Vingadores: Era de Ultron” (2015), do mesmo Joss Whedon que dirigiu este primeiro filme (e que também parece sintetizar as tendências mais tóxicas dos nerdolas), é menos um filme e mais uma mancha de óleo digital indistinta e amorfa escorrendo pela tela. Mas qual não foi minha surpresa ao constatar que o longa original tem azuis e vermelhos que saltam aos olhos; coisa bonita de se ver, por exemplo, sob a luz do sol refletindo no oceano, na cena em que nossos heróis conversam em um porta-aviões/aeronave gigante.
Mesmo que o filme esteja envolto em uma estética pseudo-naturalista que impede que as cores sejam verdadeiramente vivas, elas estão lá – com uma qualidade que, em comparação à maçaroca digital manifestada a partir de fundos verdes dos anos seguintes, pode ser descrita como “quase tátil”. Não só: os contra-plongées de “Os Vingadores” (quando a câmera filma de baixo para cima) têm mais personalidade que qualquer outra coisa feita pelo MCU desde então – e o fato de eu lembrar de uma série de imagens desse filme, mesmo 10 anos depois de assisti-lo pela primeira vez, e ser incapaz de lembrar de qualquer plano significativo de qualquer outro filme da Marvel parece atestar esse fato.
É preciso falar da trama?
Sério? Bom, lá vai: Loki (Tom Hiddleston) toma controle do Tesseract, uma certa arma alienígena aí, com o intuito de dominar a Terra. A ele é prometido um exército por um personagem chamado de O Outro, de quem eu não me lembrava em absoluto e que parece ficar por isso mesmo (segundo a Wiki da Marvel, O Outro foi morto por Ronan, vilão do primeiro “Guardiões da Galáxia”. Falou, então). Nick Fury (Samuel L. Jackson), naturalmente, se vê inclinado a reativar a Iniciativa Vingadores – mas, antes, precisa convencer os heróis a trabalharem juntos.
Eu sei que tenho tratado “Os Vingadores” como mero ponto de partida para discuti-lo em comparação às sequências; ao mesmo tempo, o maior pecado do Universo Marvel talvez seja, precisamente, o fato de que os filmes não podem ser simplesmente filmes, mas, antes, tecido conjuntivo para uma franquia multibilionária, para um império do entretenimento (trans)midiático. A notícia boa é que “Os Vingadores” pode, sim, se sustentar por si mesmo – curtição garantida mesmo se você, como eu, não se lembra de nada do que diz respeito ao Tesseract, ou o que exatamente aconteceu entre Loki e Thor antes do filme começar, nem de todas essas traquinagens do Universo Marvel.
E ainda assim, este é apenas um… bom filme. Não há muito o que eu possa dizer sobre ele. É, sem dúvidas, o melhor filme da Marvel, o único verdadeiramente memorável, mas não é como se a competição fosse pesada. Tudo o que ele tem de bacana já foi apontado – a fluidez da câmera, a vibratilidade dos enquadramentos dos personagens, as lufadas de cores que ocasionalmente tomam a tela. Caro leitor, você não sabe como o crítico precisa suar para escrever sobre um filme que é apenas bom. Seria mais fácil se ele fosse atroz.
Os personagens
Mas talvez ainda seja possível dizer mais sobre os personagens. Eles me parecem, justamente, o forte do longa. Enquanto filmes posteriores da Marvel cimentariam a fórmula “uma piadoca a cada 30 segundos”, aqui o humor parece fluir organicamente da interação dos personagens. Como todos os heróis basicamente se odeiam, a dinâmica de duelos verbais à la screwball comedies é propensa a todo tipo de tiradas sardônicas. O mais importante é que elas parecem obedecer a lógica interna dos personagens. Os próximos longas, sabemos a essa altura, atestariam para uma saturação desses elementos cômicos a qualquer custo.
Claro, quando você tem alguns dos melhores atores de Hollywood na folha de pagamento, é difícil que as piadas não funcionem. Mas veja o modo como o estúdio lidou com a figura de Thor ao longo dos anos: conforme as tragédias foram se empilhando na trajetória do personagem, ele foi ficando mais e mais bocó. O que não é um problema per se – Chris Hemsworth é um dos melhores que temos atualmente para interpretar o loiro burro. Por outro lado, nada no personagem tem peso e quem se importa com o que quer que seja quando você tem um Thor gordo e comedor de Doritos na tela?
Chegou o ponto em que todas as dezenas de personagens que povoam esses filmes falam mais ou menos da mesma forma. Seja o Rhoades de Don Cheadle ou o Rocket Racoon, dublado por Bradley Cooper, todos são máquinas de disparar tiradas sarcásticas. É que, quando as produções são confeccionadas por comitês e voltadas ao mínimo denominador comum, você acaba com filmes que não são tão distintos assim daquelas vinhetas de fim de ano da Globo: é bacana ver todos os artistas reunidos, cantando a mesma música de sempre em um galpão do Projac; mas o frescor logo passa – ano que vem tem mais.
Assim, é bacana retornar a este “Os Vingadores” e descobrir que é permitido aos personagens apenas serem. O grosso do filme, na verdade, se dá a partir das interações. A única personagem que está verdadeiramente má servida é a Natasha Romanoff, de Scarlett Johansson. De fato, o desserviço com a coitada permanece ao longo de todos os filmes em que participa. Quem se lembra que, em “Era de Ultron”, há uma subtrama romântica entre Nat e Bruce Banner que jamais seria concluída, por exemplo?
Pior: esses filmes partem de uma posição extremamente cínica no que diz respeito a palavrinhas grandes como “Empoderamento”. Logo na primeira cena em “Os Vingadores”, Natasha, decotão à mostra, está amarrada a uma cadeira, cercada por um bando de homens. Um deles dispara ameaças enquanto segura o rosto de Nat com a mão. Alguns segundos depois, descobrimos que Natasha não estava sob ameaça alguma; ela poderia simplesmente se soltar e descer o sarrafo em todo mundo a qualquer momento, o que, de fato, faz.
Mas me parece que o desconforto que o espectador sente nessa cena não se dá apenas por ver uma personagem querida sob ameaça (a princípio); antes, o filme parece interessado mesmo é em dar Natasha à vista de seus espectadores. Toda a construção da cena – Natasha amarrada na cadeira, as mãos presas para trás, seus peitos à mostra – parece denunciar a versão PG-13 de uma imaginação soft porn, apenas para o filme tentar limpar a própria barra em seguida com um momento girl power (Natasha metendo a porrada nos bandidões). É de um cinismo verdadeiramente nojento.
Essa tentativa de agradar todo mundo, do onanista na plateia ao público feminino, faz pensar na abordagem que a Marvel adotaria de vez nos anos seguintes (mas que não chega a contaminar “Os Vingadores” por completo): a criação não de um filme, ou seja, de um todo minimamente coeso, mas de uma série de momentos costurados uns aos outros, cada um voltado para uma faixa demográfica específica. Basta você se lembrar (eu sei que é difícil…) do momento girl power de “Vingadores: Ultimato”, quando todas as heroínas se juntam e… não sei, lutam contra o Thanos por alguns instantes? Algo do tipo.
O que você talvez não se lembre (eu claramente mal consigo lembrar, e olha que revi o filme há poucos dias) é que esse momento já acontecia em “Vingadores: Guerra Infinita”, mas com outras heroínas. É como se fosse um protocolo: precisamos de um momento assim, um momento assado, remeter à causa X, à causa Y; um cálculo cínico para sair bem na foto enquanto a serpente segue se enrolando em si mesma.
Quanto a Natasha, sua sorte foi ter sido interpretada por Scarlett Johansson, que consegue trazer carisma e inteligência a uma personagem que poderia muito bem ser só um fetiche ambulante.
O deserto depois da tempestade
O que mais dizer, então? Mesmo sendo o melhor de seu estúdio, ele, ainda assim, não é capaz de redimir os pecados da Marvel, em retrospecto. E já que enveredamos para a teologia, deixem-me fazer uma última observação. Chama a atenção o modo como a humanidade é retratada aqui: incapaz, indefesa, subserviente. Em dado momento, Loki diz a uma turba que a liberdade é a maior mentira de todas e a ordena que se ajoelhe. Um senhorzinho se recusa, bravamente, e justo quando Loki está prestes a obliterá-lo, Capitão América envolve o homem com seu escudo. Entre deuses colossais, o que somos nós? O que temos?
A raça humana precisa lidar com o fato de que o universo é gigantesco e que nele há seres infinitamente superiores a nós – o que, supostamente, justificaria todas as mentiras que Nick Fury conta ao longo do filme pelo bem maior. Loki, os Vingadores (até mesmo a SHIELD, em certa medida), não importa: somos patéticos se comparados a qualquer um deles, meros joguetes sem autonomia à mercê da vontade dos mais poderosos. A questão é, então, escolher o menos pior: diante de nossa insignificância, só podemos aceitar a subjugação. No fim das contas, a diferença entre Loki e os Vingadores é que o vilão é, ao menos, honesto.
Pensando nos filmes subsequentes – na criação via comitê de momentos soltos a partir de dados quantitativos, na estética de cutscene que se tornaria a regra –, faz até sentido: não há espaço para o elemento humano nessa desértica paisagem corporativista.