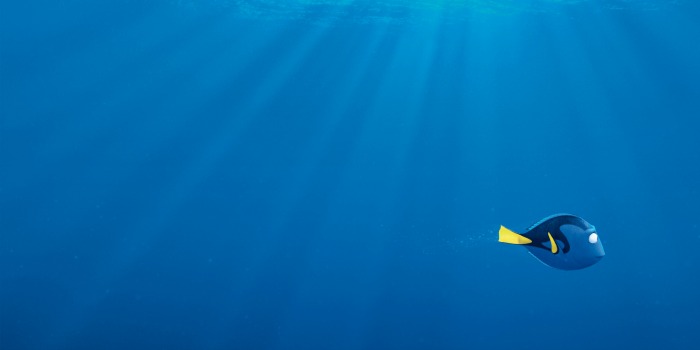O melhor filme que este crítico viu no Festival do Rio de 2022 é, antes de mais nada, uma experiência extremamente conflituosa. Talvez seja apropriado; o que mais esperar de uma obra que mescla ficção à nossa realidade – em tudo que ela tem de mais confusa e revoltante e insalubre?
“Mato Seco em Chamas” é um filme que quer te incendiar, mesmo – desde os frames iniciais, encharcados de gasolina, até, é claro, o título. Descobriremos mais tarde que ele se refere ao trecho de uma música do Muleka 100 Calcinha. O grupo existe, embalando os casais ao som do arrocha e do forró. Em certa sequência, as personagens do filme, Chitara, Léa e Andreia, assistem ao show da banda, rolando num boteco da Ceilândia. Essas mulheres também existem. O filme é, pelo menos em parte, suas vidas.
A história – ou pretexto ficcional – mostra Chitara se tornando a maior fora-da-lei da comunidade de Sol Nascente, Ceilândia, após criar o próprio esquema de distribuição de gasolina entre os motoboys. Léa, a irmã paterna, atua como pistoleira e braço direito na empreitada. Andreia, que se torna liderança política pelo Partido do Povo Preso, completa o trio.
Tesão e guerrilha
Mas essa trama, logo fica claro, se desenrola no extracampo, no avesso do que vemos em tela: as conversas, as andanças de moto, o vermelho do chão de terra batido, o azul do céu e tudo o mais que constitui o cotidiano dessas personagens. A ficção, aqui, é encarada como um jogo que articula e possibilita o registro daquelas vivências – o que não foge, portanto, do que Adirley vem construindo ao longo de sua obra.
E é justamente desse jogo, do modo como as (não-) atrizes brincam de encarnar a si mesmas, que “Mato Seco em Chamas” tira sua força: são vidas em polvorosa, “explodindo com paixão”, como diz a canção. Contra a tempestade sempre à espreita, só mesmo muito tesão e guerrilha.
Mas, sempre que o filme tenta se colocar de forma mais direta, ele simplesmente não consegue produzir dramatizações fortes o suficiente; é quase como se a mão pesada dos diretores Joana Pimenta e Adirley Queirós se impusesse sobre suas personagens. O jogo perde força e a gente entra em uma esfera muito mais discursiva.
Chovendo no molhado
Por exemplo, há uma cena em que um grupo paramilitar ensaia uma nova saudação entre si. E no que ela consiste? No slogan bolsonarista, “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. O problema é que todo esse momento soa dolorosamente óbvio.
Daí, fica a impressão de que “Mato Seco em Chamas” está falando para os convertidos, em uma câmara de ecos entre o longa e seu público – o que soa, no mínimo, auto-congratulatório. Para além do discurso e das representações fáceis, falta uma imagem que realmente nos mobilize durante essas cenas.
Em outras palavras: é como chover no molhado. E, diante do tanto que nos é revelado nos rostos daquelas mulheres, é impossível não nos frustrarmos quando o filme parte pra essas imagens mais óbvias.
E que rostos são esses: embrutecidos, sim, mas imensamente belos. Chitara, com seus olhos oblongos, perigosos, iluminados por um feixe de luz à la filme noir, vestindo um shortinho com estampa de leopardo; Lea, com seus cabelos negros como a noite que não tem luar, apertando os olhos como um cowboy sempre que traga do seu cigarro; Andreia, agitando os braços e mandando ver num rap em cima do carro de som, bandeiras pretas hasteadas ao seu redor.
São esses rostos que justificam a obra. Neles, o projeto de “Mato Seco em Chamas” não só se evidencia, como se concretiza: filtrar o real a partir do cinema; usar o cinema para criar o real.