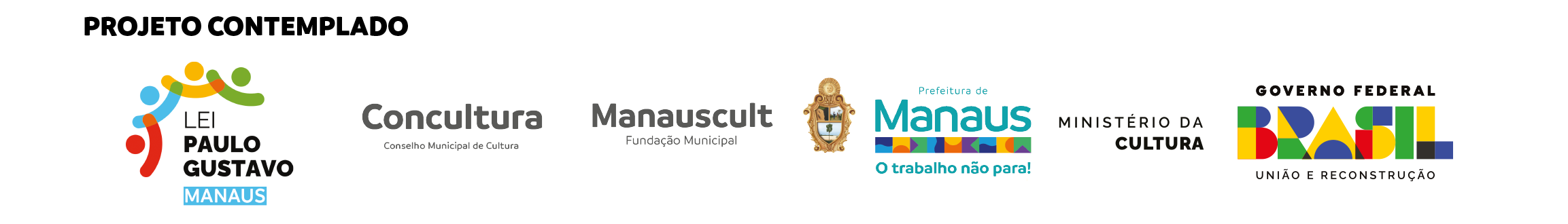David Leitch: sintoma do irritante filão contemporâneo do cinema de piscadela, espertinho, de piadinhas meta e afins. A novidade no seu caso são as doses nada homeopáticas de humor adolescente masculino. Dê uma olhada em sua filmografia e você entenderá do que falo: entre pastiche retrô de “Atômica” e a irritação sem fim de “Deadpool 2”, foi se tornando cada vez mais claro que o sucesso do primeiro “John Wick”, colaboração entre Leitch e Chad Stahelski, provavelmente se deve mais ao segundo.
Não que um pouco de humor adolescente masculino não seja interessante de tempos em tempos. O problema é que ele geralmente traveste de ousadia o que, no fim das contas, são os maiores lugares-comuns possíveis. Você precisa ser genuinamente odiável, sinceramente vil pra que a coisa funcione. Pense no Shane Black de “O Último Boy Scout” e você vai entender do que falo.
Leitch não tem a vileza de Black, então, ele parte para um caminho mais ameno, sentimental em “O Dublê” (e Black também é imensamente sentimental). Se insisto tanto no nome do diretor-roteirista oitentista é porque se trata do farol em um filme que não esconde suas referências cinematográficas. Claro, em se tratando de um cinema de piscadelas, as referências são uma certeza: personagens tagarelam sem parar sobre as coisas que assistem, apontando a um só tempo a artificialidade do que assistimos (ousado!) e assegurando nossa identificação com a coisa toda. A novidade é que não há apenas esse nível superficial de referenciação, mas há uma tentativa de introjetar em “O Dublê” os filmes que, agora está claro, Leitch genuinamente gosta.
Talvez isso se deva mesmo à aproximação a um universo que o diretor conhece – ele veio do mundo dos dublês, afinal. O caso é que, pelo menos um pouquinho, o diretor baixou sua guarda irônica pseudo-edgy e se abriu para o mundo. O que apareceu? A trama detetivesca à la, novamente, Shane Black e uma história de amor.
GOSLING E BLUNT COMPROMETIDOS
Sobre o primeiro: Ryan Gosling é o dublê de um astro burraldo (Aaron Taylor-Johnson, no único tipo de papel em que o ator talvez seja suportável) que, após um acidente de filmagem, deixa os sets pra trás. A coisa muda quando sua antiga paixão, a então operadora de câmera e agora diretora de Emily Blunt, o convida para seu filme. Ou é o que ele pensa.
Acontece que o brucutu estóico foi chamado à ação não pela crush, mas pela produtora interpretada por Hannah Waddington. É que o astro do filme está desaparecido e quem melhor do que seu antigo dublê para encontrá-lo? É o pontapé inicial para uma trama de reviravoltas que, no entanto, nunca chega ao patamar das plots vertiginosamente convolutas que claramente lhe servem de inspiração.
Tudo bem. No meio do caminho há set pieces de ação com manobras radicais, explosões, quedas, caçambas sendo arrastadas pelas ruas, pancadarias, enfim: Leitch já havia demonstrado ser bom nisso. Mas será que ele é bom com histórias de amor?
A resposta: nem tanto. O romance entre Gosling e Blunt é entremeado por inserções espertinhas, repetições irritantes (o vai-não-vai da personagem de Blunt quase põe tudo a perder) e conversas metalinguísticas aborrecidas. Mas a coisa não desanda, e se não desanda é porque a dupla principal está inteiramente comprometida; é porque Gosling sabe alternar entre o cool desinteressado e o sentimental de olhos inchados de tanto chorar, e porque Blunt, por mais ingrata que seja sua personagem, consegue injetá-la de dignidade e mágoa genuínas.
O resultado: provavelmente o único filme de Leitch que eu reassistiria sem que me obrigassem.