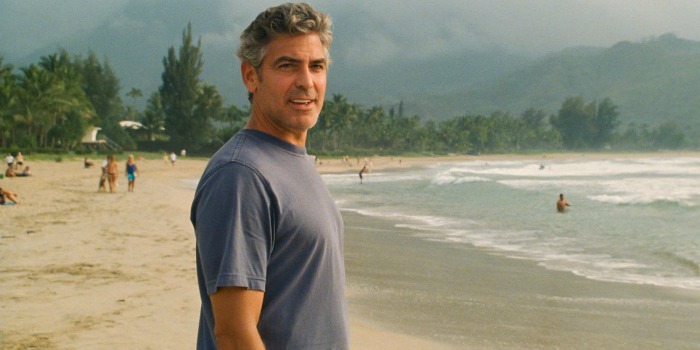“Walk-Up”, o novo filme de Hong Sang-soo: o que mais há para dizer? Os partidários do sul-coreano já sabem o que esperar: a escala íntima, conversacional; a cara e o som de uma feitura quase artesanal; os planos longos, que registram cada refeição dos personagens basicamente em tempo real, com o mínimo de estardalhaço.
Mas, para os navegantes de primeira viagem (ou para os recém-convertidos como eu), basta dizer que “Walk Up” se passa em um prédio. Sua proprietária, a designer de interiores Ms. Kim (Lee Hye-young, que já atuou em vários outros filmes de Hong), aluga salas comerciais e apartamentos nele.
Ela recebe a visita de um bem-sucedido diretor de cinema (Kwon Hae-hyo, que já atuou em vários outros filmes de Hong), cuja filha (Park Mi-so, que já atuou em vários outros etc e tal) quer tentar a sorte na mesma profissão de Ms. Kim.
Essa não é, contudo, a profissão dos sonhos da menina. Ela queria seguir carreira artística, mas preocupações mundanas (como a necessidade de se sustentar) a fazem cogitar uma profissão com um mercado de trabalho real. Mais tarde, conheceremos Sunhee (Song Seon-mi, “que já atuou…” e o resto vocês já sabem), que tem um pequeno restaurante no prédio de Ms. Kim. Sunhee tentou ser pintora quando moça, mas descobriu não ser capaz de se dobrar ao gosto das madames.
À mesa

Hong coloca seus personagens artistas numa série de encontros à mesa. É ali que as camadas das performances do cotidiano se revelam. Ms. Kim tenta ser durona como forma de camuflar sua sensibilidade. E o diretor veste a carapuça de, justamente, diretor, autoritário e narcisista (mas nunca frio, graças a Kwon).
Por alguns breves momentos, comendo, conversando, eles se encontram. Mas as performances cotidianas seguem mais fortes, e a vida continua empilhando pequenos desapontamentos diários.
O trunfo de “Walk Up” não é apenas o modo como os personagens se revelam, contudo. E também não é o modo como Hong se revela, usando o diretor de Kwon como seu avatar. Antes, é como se o filme revelasse a si mesmo. Não se trata aqui de artifícios metalinguísticos (nem do microfone que aparece refletido na lataria de um carro em dado momento – acidentalmente, supõe-se). Esse ato revelatório se dá pelo estilo despojado e descomplicado de Hong, ou seja, pela própria forma.
Está no modo, por exemplo, como seus enquadramentos por vezes cortam o topo da cabeça dos atores. Ou na trilha sonora, composta pelo próprio Hong, que parece ter sido gravada num celular.
Eu digo isso com a maior das afeições possíveis. Kwon, no papel de diretor, diz em dado momento que filmes são muito caros, que muito é despendido com gastos supérfluos. Que a pureza do processo criativo acaba comprometida. A estratégia de Hong é reduzir ao máximo a escala. O holofote está na criação – como uma necessidade compulsiva, como forma de vida. O resultado é que seus filmes parecem acontecer espontaneamente diante dos nossos olhos, como se simplesmente se materializassem na tela.
Este, aliás, é meu primeiro Hong na tela grande. Que experiência curiosa: um filme que busca ser mínimo, visto numa tela gigantesca – os ruídos ambientes saturados nas caixas de som, a imagem digital meio granulada, os desconhecidos sentados na escuridão ao meu redor. Não consigo mais conceber outra forma de experienciar o cinema de Hong: essa é uma sensação de proximidade como poucas na vida.
É que a tela grande, o andamento cuidadoso, os espaços familiares, as taças de vinho e os copos de soju, tudo isso nos oferece o espaço necessário para vivermos, para criarmos com aqueles personagens.
No fim, o cinema de Hong Sang-soo é um convite ao processo criativo.