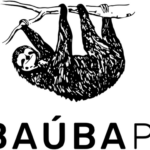A câmera está colada ao chão. O ruído dos ratos é incessante. Insetos orquestram seu zumbido em uma poça escura. As cabras passam balindo. A sujeira e o clima de fim do mundo fazem lembrar o pesadelo urbano de “Limbo”, de Soi Cheang, mas não estamos em Hong Kong. Esta é Délhi, onde o ar é tão poluído que os pássaros estão literalmente caindo do céu.
É aqui que conhecemos Saud, Salik e Nadeem, que levam um hospital improvisado para os milhafres, tipo de ave carnívora. A empreitada de resgate ganha contornos sísifos em meio ao caos ambiental, enquanto os três tentam salvar as aves nos fundos do seu comércio.
Mas a primeira coisa que chama a atenção neste “Tudo Que Respira”, indicado ao Oscar de Melhor Documentário, é que ele não tem a cara de um documentário tradicional. Antes, a câmera se move pacientemente, através de lentas panorâmicas. Da mesma forma, o posicionamento das pessoas frente à objetiva há de ser fruto de deliberações com os retratados, para melhor valorizar as composições. A espontaneidade não é o principal aqui.
Todo esse esforço parece apontar para o desejo de construir uma experiência imersiva ou, podemos dizer, sensorial. A profundidade de campo reduzida, a câmera próxima aos animais que rastejam por Délhi e, principalmente, o design sonoro trabalham para reforçar essa sensação.
Mas a partir dessa estratégia também desponta uma certa fascinação com a sujeira. Notem aquele take submerso, já no meio de “Tudo que Respira”, em que vemos larvas se chacoalhando num tanque de água parada; há mesmo uma certa beleza aqui, um fascínio pelo modo como a vida dá um jeito de brotar nas condições mais adversas.
Diretamente do apocalipse
Em meio a um cenário apocalíptico, a natureza segue se adaptando, improvisando – como os pássaros de Délhi, que se utilizam de bitucas de cigarro para espantar parasitas. É um estranho espetáculo, este da adaptação da vida ao decadente mundo humano – nesse sentido, até em “Crimes do Futuro” o documentário faz pensar.
Mas também me remete à uma incursão recente que fiz por Paquetá. Para os que não são cariocas, trata-se de uma pequena ilha no meio da Baía de Guanabara. Outrora conhecida como “Ilha dos Namorados”, hoje ela flutua em meio aos detritos do restante da cidade. Ninguém mais se banha nas suas praias – apenas os pivetes que se criam soltos.
Mas lá em Paquetá existe uma árvore chamada Maria Gorda. Trata-se de um baobá gigante e antiquíssimo, do tempo em que os tamoios andavam descalços pelo lugar. Talhados no seu tronco, você lerá nomes, assinaturas e declarações, mensagens datadas de sabe-se lá quando.
A Maria Gorda sobreviveu aos tamoios e suas flechas, aos portugueses e suas naus, e sobreviverá aos cariocas e seu lixo. Talvez um dia, quando a água da Guanabara submergir todo o Rio de Janeiro, esse baobá sobreviva à baía. Torçamos.