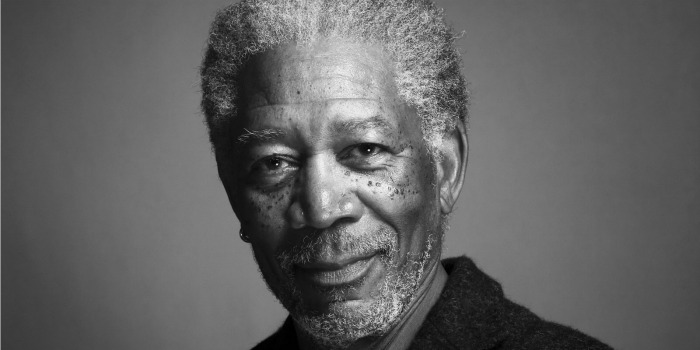Entre as muitas coisas que a pandemia da Covid-19 nos tem tirado – a tranquilidade, a vontade de sair à rua, as pessoas queridas que se foram –, a perda das experiências culturais compartilhadas é uma ausência que cala particularmente fundo.
Essa perda é ainda mais sentida quando lembro que, no trágico mês em que a pandemia começou a se alastrar pelo país – março de 2020 –, o Cine SET estava em meio a em um projeto especial, pela oportunidade e pelo reconhecimento ao trabalho do site e sua equipe: a organização de uma mostra de cinema, como parte da programação do 10º Festival Amazonas Jazz. Por um mês, nossa tarefa seria apresentar filmes que falassem sobre jazz, tivessem trilhas marcantes de nomes do gênero ou fossem ligados à música de algum modo.
A mera ideia de participar do Amazonas Jazz tinha algo de fantástico. Foi graças a esse evento, nas suas nove edições anteriores, que admiradores do gênero em Manaus (incluindo este escriba) tiveram a chance de ver e ouvir, bem de perto, gigantes brasileiros – Rosa Passos, Zimbo Trio, Os Cariocas, Hamilton de Holanda, Egberto Gismonti –, além de estrangeiros – Gonzalo Rubalcaba, Dave Liebman, Ron Carter, o insuperável Eddie Palmieri –, e locais, como Abner Viana, Humberto Amorim e o mestre Teixeira de Manaus. De forma ainda mais importante, o Festival foi o primeiro contato de muitos manauaras com o jazz, e uma oportunidade valiosa, pra quem já ama o gênero, de descobrir novidades: os shows do pianista alemão Vana Gierig, em 2010, e do pernambucano Amaro Freitas, no ano passado, vão ficar pra mim como duas experiências transcendentais, dois momentos em que a descoberta da música teve a força de uma epifania. Mais do que um privilégio e uma honra, participar da 10ª edição seria, enfim, uma chance de devolver um pouco de todo o prazer e contentamento que o Festival me deu.

Pude aprender muito sobre jazz em conversas inesquecíveis com o maestro Rui Carvalho no Festival Amazonas de Jazz.
Mas havia mais: minha missão seria falar sobre o documentário Jazz: Um Filme de Ken Burns (2001), uma obra importantíssima para a causa do gênero, em exibições comentadas ao lado do maestro da Amazonas Band, o extraordinário Rui Carvalho. Pelo breve período em que isso aconteceu (duas sessões, o suficiente pra carregar a gratidão pela vida), fui a “escada” privilegiada para as reflexões de Rui sobre música e cinema, que iam muito além do jazz e de Jazz em particular: os dois episódios (de dez) da série levaram o maestro a tecer considerações sobre Ingmar Bergman (sua tese de que Sonata de Outono seria a melhor integração da linguagem musical a uma narrativa audiovisual foi bastante intrigante), o compositor clássico tcheco Antonín Dvořák (como um exemplo de músico aberto a influências do folclore e da música popular, dois elementos centrais para o jazz) e o artista plástico francês Marcel Duchamp (pela ruptura com os conceitos tradicionais de obra de arte e do “belo” em arte, análoga ao reconhecimento do jazz como uma música criativa e inovadora). Quem esteve lá pôde compartilhar o mesmo maravilhamento – e talvez espanto.
‘JAZZ’, DE KEN BURNS: A HISTÓRIA CLÁSSICA
Como a pandemia segue pior do que nunca, e eu não sei se, nem quando, terei a chance de falar novamente sobre Jazz para o público, segue um pouco do que é esse filme: trata-se da maior obra, em extensão e importância, dedicada ao gênero no cinema, e um marco para os documentários sobre música.
A ambição do projeto de Ken Burns não era pequena – e nem poderia ser, vindo de um cineasta conhecido pelos painéis monumentais da cultura norte-americana: suas duas séries anteriores traziam os nomes de Guerra Civil (1990) e Beisebol (1994). Após se debruçar sobre o acontecimento definidor na história de seu país, seguido por seu principal entretenimento popular, o documentarista nova-iorquino voltou sua lente épica à maior (e talvez única) contribuição original dos Estados Unidos para a história das artes: o som do jazz.
Jazz, o documentário, chegou num momento de consolidação para a música. Nos EUA, sete décadas de evolução constante tinham desaguado em duas correntes opostas: de um lado, o trompetista Wynton Marsalis, defensor ferrenho da tradição, pontificava sobre o que cabia ou não na definição de “jazz”, e sua atitude sectária excluía até nomes fundamentais que tentavam alargar as fronteiras do gênero, como Miles Davis, Charles Mingus e Ornette Coleman; de outro, o saxofonista Steve Coleman (sem parentesco com Ornette), campeão da integração do jazz com as novas linguagens musicais, como o funk e o hip-hop, e advogado pela renovação constante da música. Jazz se alinha à narrativa de Marsalis, que também é co-produtor da obra, sobre o jazz – e, se essa é uma decisão coerente com a proposta revisionista de Burns, ela também produz um equívoco lamentável.
A intenção de Jazz, afinal, não é ser uma exploração das vastas riquezas musicais do gênero; para isso seria preciso uma série com várias temporadas e centenas de episódios. O que Jazz tem para oferecer é uma história “clássica”, canônica, de como o jazz tomou forma, no início do século XX, virou um fenômeno popular nas décadas de 1930 e 40, e se ramificou numa miríade de linguagens e estilos, da década de 60 em diante. Seu sétimo episódio termina em 1945. O décimo, e último, abandona o fio da história circa 1961.
A principal vantagem nessa escolha é a apresentação simplificada, amigável, da música ao espectador. Num gênero rico ao ponto do embaraço, é difícil saber por onde começar, e Jazz elenca de forma clara e didática os nomes que trouxeram forma, conteúdo e emoção profunda ao som: Louis Armstrong, Duke Ellington e Charlie Parker, em primeiro plano, seguidos por vários outros notáveis, como Bix Beiderbecke, Benny Goodman, Count Basie, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Dave Brubeck, Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Sonny Rollins, Miles e John Coltrane. A fartura de imagens de arquivo e de exemplares sonoros cavoucados por Burns e companhia, além de entrevistas com contemporâneos, colaboradores e críticos, contribui enormemente para construir o contexto, e reforçar a importância das inovações trazidas por esses nomes. Nesse sentido, como um convite para se descobrir o jazz, Jazz, o filme, é irrepreensível, e seus episódios têm tudo para despertar o entusiasmo tanto em quem está chegando agora quanto em quem já é familiar ao gênero.
Infelizmente, Burns também cede a um artifício perigoso na sua opção classicista: o que fica implícito, nos dois episódios finais de Jazz, é que a música perdeu o rumo. Não só é sugerido que pouca coisa digna de nota surgiu depois de 1961, como nomes de dentro do próprio jazz teriam trabalhado ativamente para desfigurar a música, levando-a na direção de um intelectualismo excessivo ou de um misticismo radical, produzindo egotrips agressivas e afugentando o público (acusação feita a Ornette Coleman, John Coltrane e os baluartes do free jazz), ou atenuando o swing e o lirismo do jazz pela aproximação com formas “vulgares”, como o rock e o pop (o crime de Miles Davis e seus discípulos). Outra escolha bizarra: o filme celebra o número 1 de Louis Armstrong, em 1964, pela gravação de “Hello, Dolly!”, como uma última vitória do jazz no terreno da música popular (e, em particular, sobre os Beatles). Só esqueceram de avisar que “Dolly”, de jazz, tem muito pouco; sem o fraseado inconfundível e maravilhoso de Armstrong, ela é só mais uma canção xaroposa da Broadway. O jazz (ecos de Marsalis aqui) pode bem mais do que isso, e dispensa a condescendência.
Essas implicâncias de Marsalis são perigosas não só para a sobrevivência da música, ao pretender cristalizá-la num passado ideal; elas também desviam o espectador de todo o grande jazz feito dos anos 60 em diante, e não só nos EUA. Por último, elas encampam um desprezo à experimentação mais radical e à mistura do jazz com outras linguagens musicais, o que vai contra a própria essência do gênero, que é, desde sempre, híbrido, formado pelo cruzamento de raças, culturas e tradições de diferentes origens.
Descontando os deslizes dos últimos episódios, então, mergulhe sem medo no estupendo Jazz de Ken Burns. E, se quiser saber para onde ir depois na música, eis algumas dicas do que houve: grande jazz fusion por Miles, Herbie Hancock, Mahavishnu Orchestra, Weather Report, Return to Forever e Frank Zappa; a longa e fantástica trajetória de Ornette Coleman (e também do seu baixista Charlie Haden); a primeira ópera-jazz e a renovação do jazz orquestral por Carla Bley; o free jazz assumidamente complicado, agressivo e altamente empolgante de Cecil Taylor e Anthony Braxton; o grande jazz latino de Irakere e Eddie Palmieri; o florescimento do jazz europeu, através do elenco do selo alemão ECM; luminares do jazz africano, como Mulatu Astatke, Abdullah Ibrahim e Hugh Masekela; os já citados Marsalis e Coleman e seus aliados, sobretudo este último; e as estupendas contribuições brasileiras ao gênero, principalmente as de João Donato, Moacir Santos, Hermeto Pascoal e Gismonti.
COMBINAÇÃO JAZZ E CINEMA

Forest Whitaker levou o prêmio de Melhor Ator do Festival de Cannes 1988 ao interpretar a lenda Charlie Parker.
De Ken Burns, há vários outros documentários desde então, continuando as suas meditações sobre temas recorrentes da cultura americana, incluindo uma nova exploração de um gênero musical: Country Music (2019), que, até onde eu pude apurar, tem qualidades e defeitos similares aos de Jazz. Os serviços de streaming também oferecem boas opções de documentários dedicados ao gênero. Posso destacar três da Netflix: What Happened, Miss Simone? (2015), sobre a cantora (surgida no jazz) e ativista do movimento negro Nina Simone; Chasing Trane (2016), sobre o gênio do saxofone que acabaria sendo canonizado como santo pela African Orthodox Church dos Estados Unidos, John Coltrane; e Miles Davis, Inventor do Cool (2019), uma emocionante recapitulação da criatividade e turbulência inesgotáveis da vida do grande trompetista.
Já na ficção, seguem três dicas de filmes célebres sobre o jazz: Bird (1988), de Clint Eastwood, em que Forest Whitaker interpreta o criador do jazz moderno, o saxofonista Charlie Parker; Por Volta da Meia-Noite (1986), de Bertrand Tavernier, em que o gigante do sax Dexter Gordon vive um músico fictício numa batalha contra o alcoolismo (a trilha é de Herbie Hancock, e é magnífica); e Mais e Melhores Blues (1990), de Spike Lee, que aborda aspectos menos lisonjeiros dessa tradição: o machismo, as ligações com o submundo, a cobrança física extenuante por virtuosismo nos instrumentos.
Não vou dar mais dicas na esperança de que, em breve, o 10º Festival Amazonas Jazz possa ser retomado, e quem quiser se deixar arrebatar pela música vai poder fazer isso in loco.